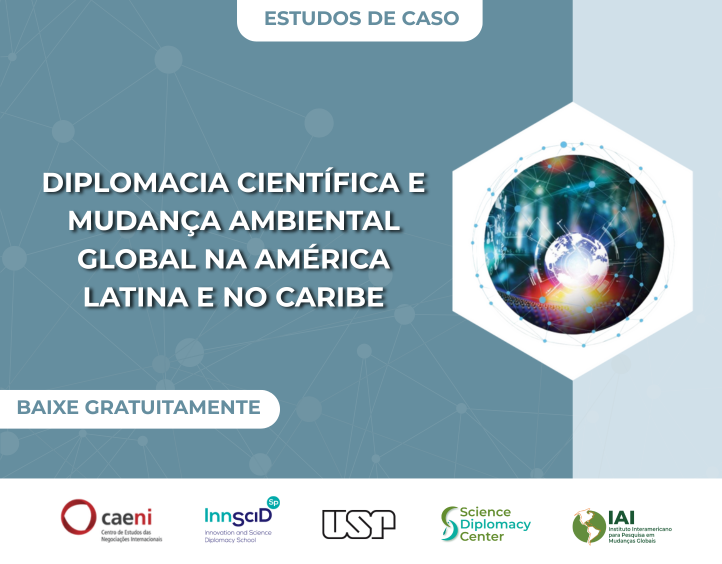A destituição de Dina Boluarte não surpreendeu ninguém que acompanhasse de perto a lenta decomposição do regime. Mais do que uma crise conjuntural, sua queda sintetiza o esgotamento de um modelo político que perdeu toda a capacidade de representação. O Peru vive há anos em uma espécie de limbo institucional: formalmente democrático, mas sem uma democracia vivida, sem cidadãos que se reconheçam em suas autoridades ou nas regras do jogo. A destituição de 10 de outubro foi apenas o último gesto de um sistema que se consome em seu próprio descrédito.
Boluarte chegou ao poder como resultado de um processo anômalo. Ela herdou a presidência após a destituição de Pedro Castillo, o professor rural que havia surgido com a promessa de uma política diferente e acabou devorado por uma estrutura institucional hostil e um Congresso decidido a impedir qualquer tentativa de redistribuir o poder ou questionar os privilégios históricos. A queda de Castillo foi apresentada como uma defesa da ordem constitucional, mas na verdade abriu as portas para um governo sem legitimidade social, sustentado pelas elites econômicas e por uma coalizão parlamentar que nunca escondeu seu desdém pelo voto popular. Desde então, o país ficou nas mãos de um Executivo sem apoio e de um Congresso que se tornou árbitro da política.
Durante quase dois anos, Boluarte governou com o discurso da “mão firme”, prometendo restabelecer a ordem e garantir a estabilidade. Mas, na prática, sua administração aprofundou a distância entre o Estado e a sociedade. Os protestos sociais que abalaram o sul andino após a queda de Castillo foram reprimidos com uma violência que deixou dezenas de mortos. A mensagem foi clara: a estabilidade valia mais do que a vida. A resposta autoritária ao conflito marcou a ruptura definitiva da legitimidade governamental. No interior do Peru, o Estado voltou a ser percebido como um aparato estranho, centralista e punitivo. Essa fratura social, que vem se gestando há décadas, acabou com qualquer possibilidade de consenso.
A insegurança, a inflação e a corrupção completaram o quadro. O chamado “Rolexgate” — a investigação sobre uma coleção de relógios de luxo não declarados — foi apenas a faísca que acendeu o pavio. Não foi o escândalo em si que destruiu Boluarte, mas o que simbolizou: um poder desconectado, incapaz de compreender a indignação de uma cidadania que sobrevive na informalidade e na precariedade. Em um país onde milhões vivem com salários insuficientes, a ostentação do luxo na cúpula política adquiriu o caráter de afronta moral. Cada relógio se tornou uma metáfora do divórcio entre o Estado e o povo.
O Congresso, por sua vez, aproveitou o desgaste da presidente para consumar a vacância. Não o fez por convicção ética, mas por cálculo político. No Parlamento peruano, os discursos sobre moral e legalidade costumam ser instrumentos de poder, não princípios. O paradoxal é que um Congresso com índices de aprovação inferiores a 10% se arrogue o direito de destituir uma presidente igualmente impopular em nome da “vontade popular”. Nessa dinâmica circular, todos ganham poder enquanto a cidadania o perde. O que em teoria deveria ser um sistema de pesos e contrapesos se transformou em uma guerra de desgaste mútuo, onde a política se reduz à sobrevivência.
A posse do presidente interino José Jerí não representa uma saída, mas a continuidade do vazio. Jerí, um político sem trajetória nacional, assume um país exausto, sem horizonte nem confiança. Ele herda não só uma crise institucional, mas uma fratura social que atravessa classes, territórios e gerações. Seu principal desafio não será manter a ordem, mas devolver o sentido à palavra “democracia”. Porque no Peru contemporâneo, a democracia se tornou um ritual sem conteúdo: eleições regulares, congressos voláteis e presidentes que duram o tempo que leva para esgotar seu crédito midiático.
A raiz do problema é estrutural. O modelo político peruano, consolidado após o fujimorismo, apostou em uma democracia mínima: mercado sem Estado, crescimento sem redistribuição, formalidade constitucional sem inclusão social. A estabilidade macroeconômica foi privilegiada em detrimento da coesão social, e o resultado foi uma cidadania cínica, descrente e frustrada. O desencanto não nasce do excesso de democracia, mas de sua ausência substantiva. Quando as instituições servem mais aos interesses de poucos do que às necessidades da maioria, a legitimidade se corrói até desaparecer.
De uma perspectiva regional, o caso peruano é um espelho que reflete uma tendência mais ampla na América Latina: a fadiga democrática. Governos que administram a desigualdade, elites que confundem estabilidade com imobilidade e sociedades que já não acreditam que votar mude alguma coisa. Neste contexto, os populismos de diferentes signos florescem não como causa, mas como sintoma do fracasso da representação. O Peru é talvez o laboratório mais extremo dessa patologia: um país onde a política foi esvaziada de conteúdo e onde a palavra “reforma” é pronunciada com cinismo.
Nesse sentido, Boluarte foi uma figura trágica: uma presidente sem partido, sem base social e sem narrativa. Governou de costas para os cidadãos, apoiando-se na repressão e no discurso tecnocrático, acreditando que a autoridade se sustenta por decretos e não pela legitimidade. Mas sua queda não deve ser interpretada como uma vitória para seus adversários, mas sim como um alerta. Quando governos de elite fracassam, não é a democracia que triunfa, mas um vácuo. E nesse vácuo, o autoritarismo sempre se esconde.
O desafio, então, é reconstruir o pacto democrático a partir de baixo. Isso implica reconhecer as demandas adiadas dos Andes Meridionais, a desigualdade estrutural que divide o país e a necessidade de um Estado que proteja, em vez de punir. A esquerda moderada — a que acredita na justiça social sem renunciar à institucionalidade — tem a oportunidade de propor uma agenda renovadora: não populista, mas popular; não disruptiva, mas inclusiva. Um novo contrato social que restaure o sentido da política e faça da igualdade uma condição da democracia, não sua promessa não cumprida.
A vacância de Dina Boluarte fecha um ciclo, mas não inaugura outro. É o último ato de uma democracia cansada que precisa se reconectar com sua própria sociedade. Se o Peru não assumir a tarefa de reconstruir o vínculo entre Estado e cidadania, permanecerá preso em seu ciclo de crises permanentes, entre a república formal e a nação ausente. Porque o problema do Peru não é a instabilidade: é a indiferença. E quando as pessoas deixam de acreditar que o poder lhes pertence, a democracia deixa de existir, mesmo antes de cair.
Tradução automática revisada por Isabel Lima