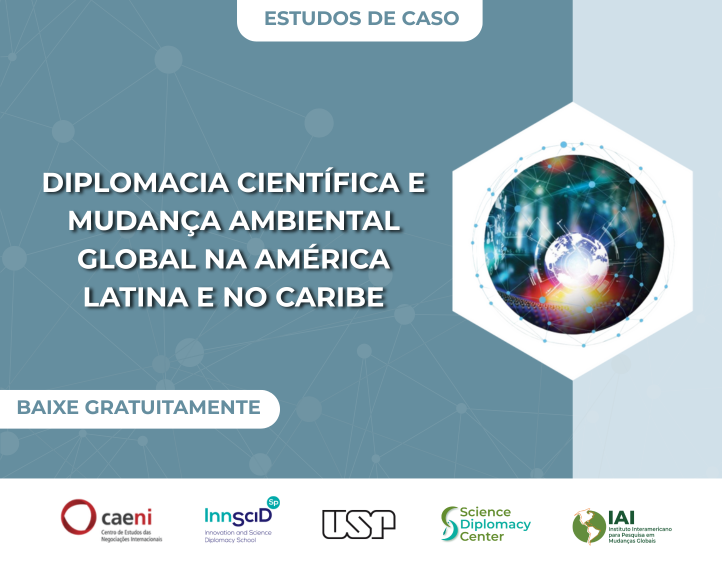Assim como em 2022 após a invasão russa à Ucrânia, o recente conflito entre Israel e Irã trouxe, novamente, a guerra para o debate público. O uso da força por parte do governo israelense liderado por Benjamin Netanyahu, em si próprio, foi uma medida considerada extrema em diferentes círculos decisórios ao redor do mundo. A aleatoriedade dos alvos escolhidos para o envio de mísseis e drones demonstrou, assim como em Gaza, a opção não apenas pelo enfraquecimento da capacidade de resposta do Irã, mas também do seu próprio regime político.
As conexões de Netanyahu com os Estados Unidos, assim como suas articulações com elites políticas e religiosas regionais, deixaram claro que seu objetivo último não era simplesmente acabar com o programa nuclear iraniano. Pretendia, na realidade, utilizar a força e a devastação para criar uma nova realidade geopolítica no Oriente Médio. Ao longo da última década, chefes de Estado e de governo vêm adotando posturas similares, sendo cada vez mais inflexíveis nas suas políticas externas. Ao fazê-lo, optam por dificultar a resolução diplomática de conflitos e criam escaladas de violência cada vez devastadoras. A justificação adotada por Netanyahu para realizar uma guerra preemptiva contra o Irã é o mais recente, e talvez o último, momento de ultrapassagem do limiar entre diplomacia e guerra.
Ao arrastar Donald Trump para a guerra que iniciou, Netanyahu deixa claro que sua intenção foi desestruturar o regime iraniano e forçar uma troca de governo e de sistema político no país dos aiatolás. Desde 2023, há registros de conversas entre o governo israelense e o herdeiro do último monarca iraniano, assim como com xeiques palestinos que buscam suplantar a Autoridade Palestina em troca de apoio político israelense. Ainda que a guerra que Trump chamou de “Guerra de Doze Dias” não tenha tido trazido exatamente uma vitória para algum dos lados, ela teve o condão de alterar padrões importantes para a execução das práticas de política externa no mundo.
São diversos os países que podem ver elites suas buscando aproximar-se de potências globais em busca da retomada de poder. A América Latina não é estranha a esse processo. A tentativa de golpe na Bolívia, em 2019, por parte de Jeanine Añez teve apoio explícito do governo argentino de Mauricio Macri. Já Juan Guaidó foi reconhecido como governante legítimo da Venezuela entre 2019 e 2022 por países ocidentais, mesmo tendo se autoproclamado presidente. Oposicionistas de governos de diferentes matizes ideológicas têm se utilizado desta posição para justificar posições radicais em prol da derrubada de governos ou de fraudes eleitorais, mesmo quando não são perseguidos em seus países ou quando estão em meio a processos judiciais por crimes cometidos.
É este o principal risco que se abre com o conflito internacional ocorrido recentemente no Oriente Médio. Ao ligar uma questão de segurança nacional com a eliminação de um regime político inteiro em outro país, a centenas de quilômetros de distância do seu território, Netanyahu utilizou a guerra como instrumento lícito de política externa. Abre o precedente de uso da força para quaisquer países que pretendam simplesmente derrubar um governo de outro país não de forma democrática ou em razão da violação de direitos humanos, mas sim para fazer valer sua vontade e sua força. Em um cenário de cada vez maior aplicação de políticas chamadas de “pressão máxima”, sobretudo pelos Estados Unidos, esta é uma possibilidade que não pode passar desapercebida pelos governos latino-americanos.
Um dos arranjos que trouxe estabilidade após a Segunda Guerra Mundial foi o chamado “pacto negativo da guerra”. A criação de um conjunto de organizações internacionais, dentre as quais a ONU, foi encarado por potências mundiais que não necessariamente eram aliadas umas das outras como uma forma de evitar as guerras. Se não levassem a um mundo de maior cooperação, estas instituições e acordos poderiam, ao menos, evitar que os conflitos internacionais fossem resolvidos apenas pela força. Vários conflitos tiveram lugar entre o início da Guerra Fria e o fim da década de 2010, mas o uso da força devia ser justificado em razão de algum benefício que fosse coletivo, quer seja para a comunidade internacional quer para populações oprimidas e vítimas de ataques por parte de seu próprio governo.
O que se vê agora é arriscado para todas as populações do mundo. Gradualmente, ao longo das últimas décadas, vários países foram abrindo mão desta justificação para o uso da violência. Mesmo em intervenções como na Ucrânia e na Líbia, por exemplo, Rússia e Estados Unidos buscaram apresentar o uso da força como um elemento necessário para o bem comum. Ao utilizar a força e o ataque irrestrito a infraestruturas e populações civis, o que o governo de Netanyahu agora abre no cenário internacional é o precedente do retorno da guerra total. A devastação, e não a derrota política ou militar, se torna o horizonte, assim como a guerra civil que tanto marcou a América Latina em seus processos políticos nos séculos XIX e XX.Um antigo secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, dizia que a instituição não servia para nos levar ao paraíso, mas para nos salvar do inferno. A reabilitação da guerra total como instrumento de política externa talvez esteja nos levando justamente para o caminho contrário do que ele intencionava. Neste contexto, a América Latina pode ser o cenário não mais de uma simples competição de favores entre duas potências, mas de tentativas cada vez mais robustas de intervenção em seus assuntos internos. Trump, com suas “tarifas recíprocas”, já deu a letra a respeito de qual caminho pretende tomar. Para o bem da nossa autonomia e democracia, surgida de tantas lutas e disputas, os governos latino-americanos deveriam se alinhar em torno não da devastação, mas sim da defesa da cooperação.