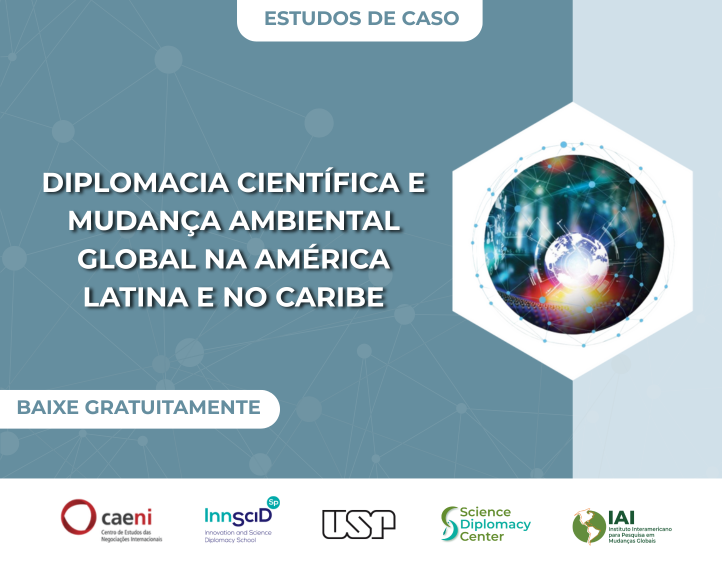Todos 10 de outubro repetimos que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Convém dizer algo mais: além de uma efeméride, é um contrato social pendente na América Latina. A saúde mental deixou de ser um tema “nicho” e se tornou infraestrutura cívica. A OMS traçou o roteiro em seu Plano de Ação 2013-2030: prevenir, ampliar a cobertura, garantir direitos e reduzir o suicídio com metas verificáveis.
A urgência é geracional e também de gênero. Mais de um bilhão de pessoas vivem com algum transtorno de saúde mental e, entre 15 e 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Em mulheres e jovens, a carga de ansiedade e depressão cresce de modo persistente. Após a pandemia, a saúde mental de pessoas de 18 a 34 anos não recuperou os níveis prévios e uma proporção significativa convive com estresse funcional. Não é um relato: isso é demonstrado por medições longitudinais e pelos próprios relatórios da OMS. Na América Latina, ademais, a instabilidade econômica, a precariedade laboral, a sobrecarga de cuidados e a insegurança alimentam um clima emocional que não se resolve com conselhos individuais. Na pesquisa WIN-Voices, realizada em 40 países, aproximadamente um terço das pessoas com filhos declara se preocupar com frequência com a saúde mental deles: um sinal de alarme que atravessa culturas e níveis de renda.
Também convém observar onde falhamos como sistemas. Segundo a OPAS, a lacuna no tratamento da saúde mental continua enorme: entre sete e nove em cada dez pessoas que precisam não recebem atenção, dependendo do transtorno. Ao mesmo tempo, os gastos públicos permanecem baixos — cerca de 2% do orçamento da saúde — e uma porção desproporcional desses recursos ainda vai para hospitais psiquiátricos, em detrimento do atendimento comunitário que leva ajuda para onde a vida acontece. Esse déficit convive com uma questão que a OMS elevou à prioridade: a solidão. Sua Comissão de Conexão Social, lançada em 2023, pediu que a “saúde social” fosse tratada com a mesma urgência que a física e a mental e instalou a necessidade de medir e abordar a solidão indesejada, especialmente em adolescentes e jovens adultos.
A Argentina oferece um retrato que dialoga com o panorama regional e global. Com dados recentes da Voices e da rede WIN em 40 países, 63% dos argentinos declaram ter passado com frequência por estados de ânimo negativos no último mês, em linha com os 62% globais. No panorama regional, o Paraguai e o Chile lideram este ranking negativo: sete em cada dez pessoas reportam com frequência estados de ânimo negativos, um sinal que reforça a necessidade de políticas de acesso e prevenção em toda a região. Se ordenarmos por incidência, o quadro fica assim para a Argentina: preocupação (36% sofrem com frequência), estresse (33%), cansaço (32%), dificuldades para dormir (26%), solidão (23%) e sensação de opressão (23%), irritabilidade (22%) e tristeza/vazio/depressão (21%). No país, aparecem três padrões nítidos. O primeiro é de gênero: as mulheres relatam sistematicamente mais preocupação, cansaço e estresse do que os homens; é revelador que a solidão seja o único indicador sem lacuna de gênero. O segundo é etário: os jovens de 18 a 24 anos lideram quase todos os indicadores. O terceiro é socioeconômico: as pessoas de nível alto relatam com menos frequência quase todos os estados negativos — especialmente preocupação (36% no total contra 29% no ABC1) —, enquanto os níveis baixos mostram maior frequência de mal-estar, de forma particularmente marcante em tristeza, vazio ou depressão.
Há, ademais, uma camada mais profunda que explica por que isso importa. Em nossas medições de longo prazo na Argentina, a proporção de pessoas que dizem que suas relações com outras pessoas são “muito importantes” caiu de 62% em 2019 para 47% em 2025, e aqueles que consideram importantes os vínculos diminuíram de 89% para 81% no mesmo período. Esse deslocamento ordena sinais já visíveis: menos planos de maternidade ou paternidade, jovens que evitam conversas difíceis, o aumento de mascotes e plantas como companhia e o surgimento de chatbots de IA como substitutos — ou complementos — da interação humana. As formas alternativas de conexão cresceram, mas os laços humanos também se enfraqueceram.
A filosofia ajuda a nomear esse clima. Byung-Chul Han, em A sociedade do cansaço, descreve a passagem do dever imposto de fora para a autoexigência internalizada: o “eu posso” como mandato, a autoexploração celebrada como produtividade e o burnout e a depressão como “patologias da positividade”. Relê-lo hoje serve para evitar moralismos (“regule melhor o celular”, “adote hábitos saudáveis”) e olhar as estruturas: horários de trabalho, precariedade, cuidados, insegurança, algoritmos que colonizam a atenção e o descanso. O ponto não é demonizar comportamentos pessoais, mas reconhecer que o mal-estar tem determinantes sociais, culturais e econômicos.
Em 2022, a OMS e a OIT publicaram guias para o trabalho que recomendam gerenciar riscos psicossociais (carga, assédio, horários), treinar gerentes de nível médio, garantir apoio confidencial e protocolar o retorno. Em escolas e universidades, o padrão deveria incluir alfabetização socioemocional, rotas de derivação e entornos de aprendizagem saudáveis com o mesmo rigor com que se planejam currículos ou infraestrutura. E o Estado deve fazer o que só o Estado pode: financiar em grande escala, integrar a saúde mental à atenção primária, fortalecer a prevenção do suicídio e construir sistemas de dados que permitam monitorar os avanços e prestar contas.
O setor privado pode contribuir sem cair no wellness-washing? Sim, quando passa do discurso para rotas concretos de ajuda e medição de impacto. Em 2024, a UNICEF e o Spotify lançaram “Una mente sana importa / Our Minds Matter” em sete países da região, com um podcast co-criado com jovens, playlists para relaxamento e, em especial, encaminhamento para recursos confiáveis. A Dove avançou com toolkits validados para escolas e esportes — como Body Confident Sport, em parceria com a Nike, que fortalece a confiança corporal — e com campanhas como #DetoxYourFeed contra a beleza tóxica nas redes sociais. A lição é dupla: cocriar com quem se busca cuidar e publicar avaliações para que o emocional não seja só estética de marca. A “tecnologia do bem-estar” — desde conteúdos de pausa até wearables — pode ajudar, se medir resultados (sono, estresse, adesão) e habilitar pontes para serviços de saúde. Alcance sem encaminhamento é ruído.
Em paralelo, é necessária uma narrativa que conecte esses pontos com a vida cotidiana e com a agenda de desenvolvimento. A América Latina tem ativos culturais valiosos — redes de bairro e familiares, capital relacional, criatividade comunitária —, mas a resiliência não pode ser usada para adiar transformações do sistema. O caminho é conhecido e exige alianças: elevar a saúde mental à máxima prioridade política; investir mais e melhor (menos barreiras, mais território); profissionalizar a gestão do risco psicossocial nas organizações; escalar a prevenção do suicídio com estratégias multissetoriais; e exigir das marcas e plataformas transparência metodológica e métricas de impacto que meçam referências e resultados, não só o alcance. Não se trata de prescrever mindfulness para tudo nem de culpar os indivíduos pela forma como gerem o seu tempo. Trata-se de devolver ao problema a sua densidade social: habitação, rendimentos, cuidados, tempos e sentidos partilhados.
O bem-estar emocional constrói-se com serviços próximos, regras claras, lideranças formadas e dados abertos. Em um continente acostumado à incerteza, cuidar da saúde mental é, além disso, uma política de desenvolvimento: menos evasão escolar, menos absenteísmo, mais produtividade sustentável, mais cidadania. Se fizermos isso, no próximo dia 10 de outubro não repetiremos diagnósticos: celebraremos que a América Latina decidiu levar a sério a saúde mental e começou a mudar não a conversa, mas a vida cotidiana de milhões de pessoas.
Tradução automática revisada por Isabel Lima