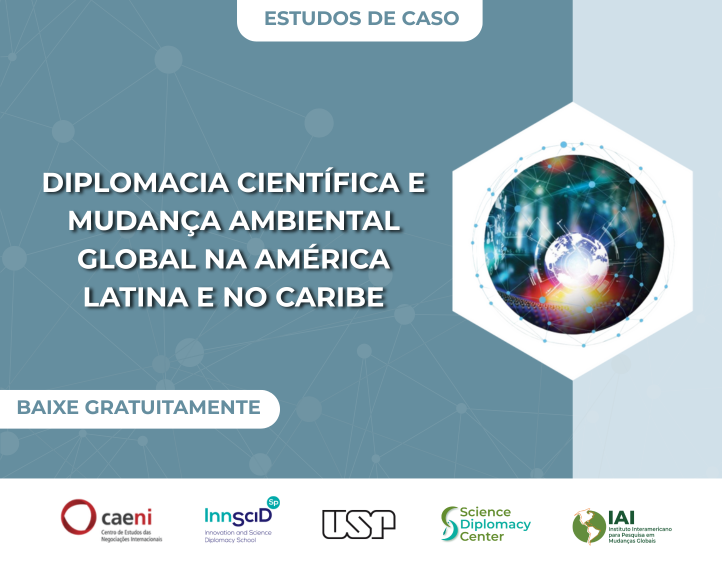O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus cúmplices pela tentativa de golpe de Estado que pretendia impedir a posse de Lula em 2022 reabriu no Brasil o debate sobre a possibilidade de anistiar os envolvidos nessa tentativa de reverter a ordem democrática. Após serem condenados a penas de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, uma lei de anistia aprovada pelo Parlamento seria sua última esperança para evitar a prisão.
O que surpreende é a naturalidade com que alguns defendem essa possibilidade, como se conceder anistias — ou seja, revisar sentenças judiciais — fosse uma atribuição comum do Poder Legislativo. Essa postura não só distorce o espírito das leis de anistia como instrumentos de reconciliação, mas também viola a lógica do Estado de Direito.
Historicamente, a anistia tem sido usada legitimamente em transições para a democracia ou em processos de pacificação após conflitos internos. Embora não fechem definitivamente as feridas, elas costumam ser consideradas ferramentas para a reconciliação nacional e o início de uma nova etapa política. Fora desses contextos excepcionais, as anistias se tornam mecanismos para que os políticos no poder perdoem os crimes de seus aliados, violando princípios constitucionais como a separação de poderes, a hierarquia normativa e a proibição da arbitrariedade.
Em termos gerais, a anistia implica o perdão a políticos, militantes, ativistas e autoridades por crimes decorrentes de sua ação política. Esses crimes geralmente ocorrem em guerras civis, conflitos armados ou regimes ditatoriais, tanto por aqueles que buscam subverter a ordem quanto por aqueles que a defendem. Nesses casos, a anistia faz parte da justiça transicional. Seu objetivo é abrir um novo ciclo de reconciliação e fortalecimento institucional para evitar futuras violações dos direitos humanos.
Nesse contexto, as leis de anistia se tornam marcos de novos processos constituintes. Não há contradição entre sua incorporação ao ordenamento jurídico e o perdão de crimes políticos, mesmo violentos. Como são aprovadas em momentos de redefinição legal, o único limite é a legitimidade do processo, um conceito difuso, mas vinculado ao consenso social sobre seus benefícios. Por isso, a anistia não pode beneficiar apenas um lado: deve incluir tanto os opositores quanto os agentes estatais e defensores do regime anterior.
Um exemplo paradigmático foi a Lei de Anistia sul-africana de 1995, que criou a Comissão da Verdade e Reconciliação. Esta investigou crimes tanto do apartheid quanto dos movimentos de libertação e precedeu a Constituição definitiva de 1996.
Em outros casos, as anistias são concedidas sem ruptura constitucional, mas visando encerrar conflitos armados que enfraquecem o Estado de Direito. Nesses processos, a legitimidade é garantida pelo controle exercido pelo intérprete supremo da Constituição. Isso permite fórmulas inovadoras, como a Jurisdição Especial para a Paz na Colômbia, criada para o fim do conflito com as FARC e supervisionada pela Corte Constitucional. O objetivo era equilibrar o respeito pela lei com as necessidades da justiça transicional.
Esses dois modelos mostram que a anistia, como medida excepcional, requer ampla legitimidade para ser vista como um bem superior e não como uma arbitrariedade em favor de um grupo político. Um exemplo contrário foram as leis de Ponto Final (1986) e Obediência Devida (1987) na Argentina, que protegeram militares responsáveis por crimes durante a ditadura. Embora não fossem anistias no sentido estrito — pois o que faziam era limitar a possibilidade futura de julgar os repressores —, elas também não incluíam o reconhecimento judicial dos crimes, nem pedidos de perdão ou propósito de emenda.
Ambas as leis foram revogadas em 2003 e declaradas inconstitucionais em 2005 pela Suprema Corte argentina. Isso reforça a ideia de que, sem consenso social, o perdão a crimes políticos é uma arbitrariedade que não se encaixa em um Estado de Direito.
De forma análoga, a proposta de anistiar a tentativa de golpe de Estado de 2022, defendida pelo bolsonarismo, significaria impunidade para um grupo político específico, aproveitando uma eventual maioria parlamentar. Isso não oferece à sociedade brasileira arrependimento, reconhecimento dos danos causados nem qualquer solução real para qualquer conflito, já que o único potencialmente existente seria aquele que teria se desencadeado se o golpe tivesse sido bem-sucedido.
Essa falta de legitimidade também encontra paralelo na recente Lei de Anistia promovida pelo governo de Pedro Sánchez na Espanha, que beneficiou líderes independentistas catalães após a tentativa de secessão de 2017. Esse processo foi julgado pelo Supremo Tribunal como uma tentativa de suprimir violentamente o Estado de Direito em parte do território nacional e os responsáveis foram condenados à prisão. Inicialmente, o governo espanhol rejeitou a anistia, considerando-a inconstitucional. No entanto, após as eleições apertadas de 2023, a medida foi aceita como moeda de troca para garantir a posse do presidente. Em outras palavras, em uma democracia consolidada, sem as circunstâncias que justificam um processo de justiça transicional ou conflito armado, e afetando apenas um grupo político, a anistia foi usada como instrumento de negociação parlamentar. Isso esclarece as intenções do bolsonarismo: como na Espanha, eles buscam aproveitar a maioria legislativa para anular uma decisão judicial e apagar os crimes daqueles que tentaram derrubar o regime democrático por meios violentos.
Embora as interpretações constitucionais da anistia sob o Estado de Direito possam variar, um princípio é inabalável: sem limites claros, essas leis podem se tornar instrumentos de impunidade que corroem os fundamentos da democracia. Quando um regime democrático aciona seus mecanismos institucionais — como a supervisão judicial sobre aqueles que tentam subverter a ordem constitucional — não há espaço legítimo para leis que apaguem esses crimes. Permitir que o Poder Legislativo desfaça o que o Judiciário sancionou abre caminho para o decisionismo, em que a lei se adapta aos interesses particulares de eventuais maiorias políticas. Se assim fosse, o poder descontrolado acabaria se espalhando desenfreadamente, e estaríamos mais próximos do governo dos homens do que do governo das leis.
Tradução automática revisada por Isabel Lima