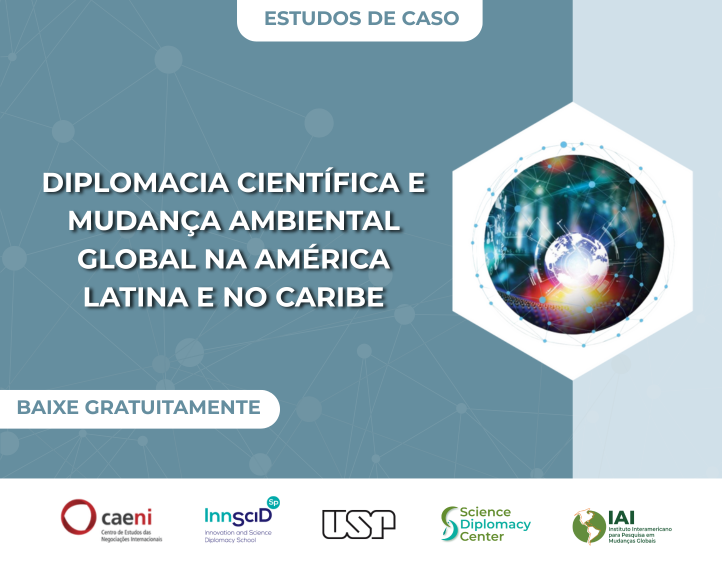As emissões de gases de efeito estufa seguem em ascensão e a temperatura média global aumenta ano após ano. O planeta alcança seus limites, enquanto centenas de milhares de pessoas já enfrentam as consequências da mudança climática. No entanto, a ascensão do movimento global negacionista, somado à pressão exercida por setores como o de petróleo, que vem prejudicando seus negócios, está freando a transição energética e a mitigação às mudanças climáticas: negam a evidência científica, falsificam informes ou mentem diretamente. Mas também corrompem governos, bloqueiam políticas e buscam frear as medidas impulsionadas por distintas entidades financeiras.
A reeleição de Donald Trump à Casa Branca terminou de consolidar essa corrente negacionista, com a consequência que a principal potência do mundo optou por desfinanciar a luta contra as mudanças climáticas, considerando-a um problema inexistente.
Neste carro subiram políticos de ultradireita – e não só –, mas também lobbys econômicos e os fundos financeiros, que até então prometiam liderar a mudança. Mas agora as decisões adotadas obedecem a outras razões e seguem a lógica da economia política: atores, interesses e poder.
As grandes promessas não-cumpridas dos fundos financeiros
Recentemente, o setor financeiro deu mostras de um novo rumo e nos encheu de promessas. Mas finalmente ficou evidente que o que realmente o move são os negócios. Por isso, a retórica ética que exibiu em reuniões e relatórios anuais recentes começou a desvanecer diante da pressão do poder.
BlackRock, um dos principais fundos de investimento do mundo, fez parte do entusiasmo inicial. Em sua carta anual aos investidores de 2018, seu diretor executivo, Larry Fink, destacou a necessidade de avançar com uma visão mais responsável e a urgência de atuar contra as mudanças climáticas. Com mais de 11,6 bilhões de dólares em ativos sob gestão, as decisões deste fundo influenciam de maneira determinante nas estratégias de investimento de diversas empresas no mundo todo.
Naqueles anos, quando os jovens tomavam as ruas das principais capitais do mundo para se mobilizar contra a inação dos principais líderes, um grupo de empresas e fundos de investimento lançou uma nova aliança: Climate Action 100+. Então, os distintos membros se comprometeram a transparecer seu nível de contaminação e reduzir a pegada de carbono em suas operações.
Em abril de 2021, um grupo de mais de 450 empresas globais lançou em Glasgow uma Aliança Financeira para as Emissões Zero (GFANZ). A presidência da aliança foi compartilhada: ali estavam Michael Bloomberg e o atual primeiro ministro do Canadá, Mark Carney, este último proveniente do setor financeiro e ex-presidente do Banco de Inglaterra. Foi no marco de um discurso nessa entidade, em setembro de 2015, onde o financista canadense resumiu as falências do sistema em uma expressão: “a tragédia do horizonte”, ou seja, como as decisões de curto prazo ignoram os riscos futuros.
Sob os auspícios das Nações Unidas, também em 2021 foi lançada a Aliança de Bancos para Emissões Zero (NZBA), um agrupamento que envolve cerca de 98 bancos de 39 países diferentes, representando 43% dos ativos globais do sistema. Originalmente liderada pelo próprio Mark Carney, a entidade buscava alinhar o setor bancário com a sustentabilidade e a luta contra as mudanças climáticas.
Uma mudança de rumo perigosa
Mas os fatos atuais mostram como as opiniões podem ser modificadas quando as responsabilidades assim o exigem ou as pressões assim o impõem.
Pouco depois de assumir o cargo de primeiro-ministro do Canadá – principal emissor em termos per capita, onde a indústria extrativa tem um grande peso na economia –, Mark Carney esqueceu as tragédias. Imediatamente, começou a validar novos investimentos em jazidas betuminosas, novos oleodutos e a desenvolver uma política agressiva de exportações, em troca de promessas de captura de carbono por parte das petrolíferas. Uma verdadeira mudança de personalidade para quem declamava a necessidade de internalizar os riscos futuros nas decisões do setor financeiro.
O mesmo aconteceu com as promessas da BlackRock, que decidiu deixá-las de lado. Isso ficou evidente em uma nova carta, na qual se destacava a inadequação de cair no wokismo e a necessidade de reorientar seus investimentos para onde eles rendem mais. Em sua carta anual deste ano, Larry Fink incentiva a expansão da produção energética, ao mesmo tempo em que omite qualquer referência ao problema climático ou à responsabilidade corporativa, aspectos que anteriormente defendia com veemência.
Diante da atual situação política, as principais instituições financeiras também estão mudando de opinião. Isso é visível na recente saída de vários bancos globais – particularmente os originários dos EUA e do Canadá – da NZBA, o que já está transformando o mandato original da entidade. Ao mesmo tempo, crescem as denúncias sobre o papel que os bancos globais desempenham no financiamento das chamadas “bombas de carbono”, como são conhecidos os projetos de investimento em carvão, petróleo ou gás fóssil com potencial para emitir mais de uma gigatonelada de CO2, que se espalham por todo o planeta.
Finalmente, o enfraquecimento também é observado entre o grupo de empresas globais GFANZ. A saída de alguns de seus membros, como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America ou, mais recentemente, HSBC, levou a entidade a flexibilizar suas normas e a buscar atrair bancos multilaterais de desenvolvimento, a fim de aumentar sua disponibilidade de fundos. Problemas idênticos foram observados pela coalizão Climate Action 100+, com a saída de vários membros norte-americanos.
E o que aconteceu com o compromisso dos países desenvolvidos?
Apesar dos discursos, os fundos comprometidos pelos países desenvolvidos ficaram muito aquém do prometido em repetidas ocasiões e ainda mais longe de cobrir as necessidades daqueles que sofrem com maior intensidade os efeitos das mudanças climáticas. Basta lembrar a promessa dos países desenvolvidos de mobilizar US$100 bilhões anuais, acordada no Comitê Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para 2020 em benefício das nações em desenvolvimento, meta que não foi cumprida.
Após a pandemia, em 2021, negociadores ambientais, líderes políticos e representantes governamentais renovaram seu compromisso de financiamento. Mais recentemente, em 2024, a COP29 reacendeu as esperanças ao triplicar a meta: os países desenvolvidos se comprometeram a contribuir com US$300 bilhões anuais destinados a investimentos em mitigação e adaptação.
Novas promessas também surgiram na Conferência de Sevilha deste ano, que se concentrou na questão da dívida soberana e nos crescentes desafios de sustentabilidade que muitos países em desenvolvimento enfrentam. No entanto, a decisão dos Estados Unidos de se retirar desse tipo de iniciativa está tendo um enorme impacto, como o desfinanciamento da luta contra as mudanças climáticas.
Na verdade, mesmo que os compromissos anunciados se concretizem, os valores continuariam sendo insuficientes para os países em desenvolvimento. A crise da dívida que os países mais vulneráveis enfrentam — aqueles com menor responsabilidade na acumulação de gases de efeito estufa, mas mais expostos a seus impactos — exige repensar o esquema de financiamento, ampliar os fundos e aumentar as doações.
Nesse contexto, é fundamental levar em consideração para quais setores o financiamento é direcionado. Se, por exemplo, a maior parte do capital for direcionada ao setor petrolífero, o país receptor aumentará seus riscos, tanto no âmbito financeiro quanto em seu processo de mitigação climática. Nesse contexto, os bancos globais e os fundos de investimento — principais canais de intermediação para as economias emergentes e em desenvolvimento — não apenas reduzirão a ambição de seus compromissos climáticos, mas continuarão financiando projetos intensivos em carbono em várias regiões do planeta.
Tradução automática revisada por Isabel Lima