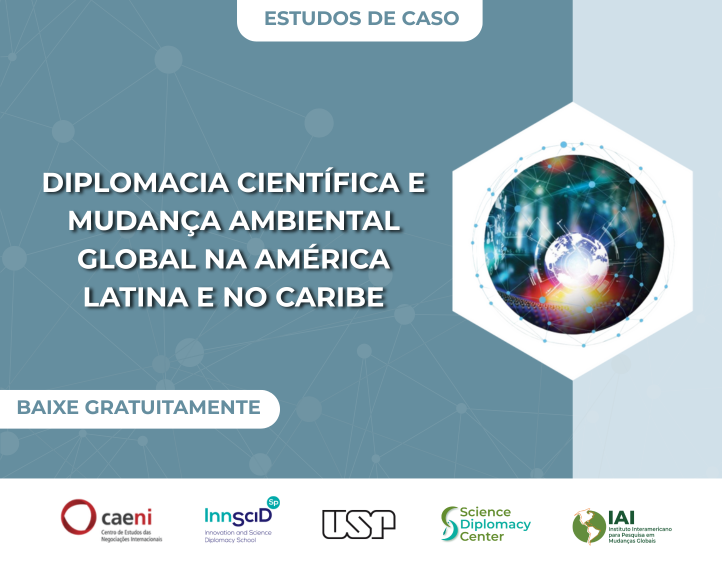Em outubro de 2019, o Chile, país apresentado durante décadas como um “modelo exemplar” na América Latina, entrou em uma crise social que surpreendeu o mundo e seus próprios cidadãos. Da noite para o dia, a ilusão de uma nação estável foi destruída, revelando um conflito que permanecia latente sob uma aparente calma. O aumento dos preços do transporte ou os altos níveis de desigualdade, explicações mais comuns para essa ruptura, foram insuficientes para capturar a magnitude e a complexidade do fenômeno.
Análises posteriores mostraram que fraturas mais profundas e menos evidentes prepararam o terreno para a crise de 18-O.
As crises não eclodem quando tudo está pior
Uma das ideias mais desconcertantes sobre as revoluções sociais e as crises multissetoriais é que muitas vezes não ocorrem nos momentos de maior miséria, mas quando as coisas começam a melhorar e as expectativas crescem mais rápido do que a realidade. Esse fenômeno, conhecido como “paradoxo de Tocqueville”, explica que a lacuna entre o que se espera e o que realmente se obtém se torna intolerável, gerando uma frustração explosiva.
Em vários relatórios, o BID ressalta que não bastam bons indicadores em nível macro, se o sistema não converter o crescimento em bem-estar tangível para a cidadania. Isso coincide com a expansão de uma “classe média vulnerável”, que não é pobre, mas vive sob uma percepção constante de risco.
Aplicado ao caso chileno, isso significa que a explosão de 2019 não nasceu da desesperança total, mas da lacuna exasperante entre a promessa do “milagre chileno” e a realidade vivida por milhões. A crise não ocorreu apesar das melhorias das últimas décadas, mas em parte por causa delas e das aspirações insatisfeitas que geraram. Não é a miséria absoluta que acende o pavio, mas a frustração que choca contra o muro das promessas quebradas de mobilidade.
O motor congelou
Historicamente, o sistema político chileno possuía um mecanismo singular de adaptação. Segundo a análise de Timothy R. Scully, após as grandes crises políticas do século XX, como o conflito clerical/anticlerical (1857-1861), o conflito de classes urbano (1920-1932) e o conflito de classes rural (1958), o sistema tendeu a “crescer para a esquerda”, incorporando novos partidos e demandas progressistas para se reequilibrar e canalizar institucionalmente o descontentamento. Essa capacidade de adaptação mediante o deslocamento do sistema para a esquerda, junto ao papel estabilizador dos partidos de centro, funcionava como sua principal válvula de escape diante dos conflitos sociais.
No entanto, esse motor “congelou”. O sistema eleitoral binominal, implementado em 1990, embora tenha conseguido garantir estabilidade durante os quatro governos da Concertação (1990-2010), interrompeu essa tendência histórica ao incentivar uma convergência forçada para o centro entre as duas grandes coalizões que conduziram o processo de transição. O resultado foi uma “esclerose” do sistema político, que perdeu sua flexibilidade e capacidade de adaptação. Ao quebrar esse padrão, a pressão social acumulada por anos, evidenciada nas mobilizações estudantis de 2006 e 2011, não encontrou canais institucionais para ser processada e acabou explodindo fora deles. Essa esclerose institucional não só acumulou pressão; também alimentou a desconfiança e a indiferença que se enraizaram no tecido social.
O novo cidadão pós-estatal
Talvez a ideia mais provocativa para entender a crise de 2019 seja a emergência de uma “subjetividade pós-estatal”. Esse conceito se refere a indivíduos que se sentem abandonados pelo Estado, “huachos” na linguagem popular chilena, órfãos de um pacto social que nunca os incluiu. Como resultado, esses sujeitos aprenderam a operar sob uma lógica de “pensar sem Estado”, onde as instituições formais perderam toda a credibilidade.
No plano intelectual, uma “estranha convergência” entre o pensamento ideológico da “nova direita” nas décadas de 1980 e 1990 e as críticas ao Estado do marxismo analítico após a queda dos “socialismos reais” corroeu, por mais de trinta anos, a valorização do público-estatal.
No nível da cultura popular, o “congelamento” do motor adaptativo do sistema político aprofundou a divisão dos cidadãos com as instituições. A queda da pobreza por renda de 40% em 1990 para 8,9% em 2017 contribuiu para que a nova marginalidade social fosse negligenciada pela classe política. Nesses espaços de segregação, as pessoas foram relegadas à estigmatização e à vulnerabilidade pela violência privada do narcotráfico ou do crime organizado. O bem comum perdeu toda a relevância e a experiência cotidiana da marginalidade tornou-se um fator de dissolução do vínculo social. Ao chegar 2019, várias gerações que nasceram na democracia só conheciam a exclusão da democracia “semissoberana” da transição e o gesto da classe política de governar de costas para a periferia.
A eclosão chilena foi originada por uma fratura multidimensional que não só questionou um modelo de desenvolvimento, mas o pacto social em sua totalidade, com forte adesão nos ecossistemas da marginalidade urbana. Não se tratou de uma expressão de pura marginalidade e lúmpen, mas evidenciou uma grave falha na reprodução da cultura democrática.
A magnitude dos custos do 18-O ainda não está relacionada com os aprendizados políticos. Em um relatório recente, a Procuradoria Nacional estabeleceu que, durante os distúrbios, ocorreram mais de 35 mil crimes. As estimativas da Direção de Orçamento do Ministério da Fazenda (DIPRES) para danos à infraestrutura pública ascenderam a US$ 3 bilhões em valores de 2020 (Metrô de Santiago, municípios, mobiliário urbano, hospitais, escolas). Por sua vez, o Banco Central do Chile estabeleceu que o investimento (FBCF) sofreu uma queda entre −3% e −4% no quarto trimestre de 2019.
Seis anos depois, essa crise multissetorial nos obriga a olhar para o retrovisor para entender as profundas fissuras que ainda atravessam a sociedade chilena, compreender como elas se ampliaram com os dois fracassos constituintes e avaliar as consequências do padrão atípico de deslocamento para a direita do sistema.
Provavelmente, reconstruir o espelho quebrado da revolta não significa negar as rupturas, mas aprender a conviver com as fissuras e, para isso, é necessário se perguntar: que tipo de pacto social pode ser construído sobre um terreno fraturado, com um sistema político que se desloca de forma incomum para a direita e com cidadãos que aprenderam a viver sem Estado?
Tradução automática revisada por Isabel Lima