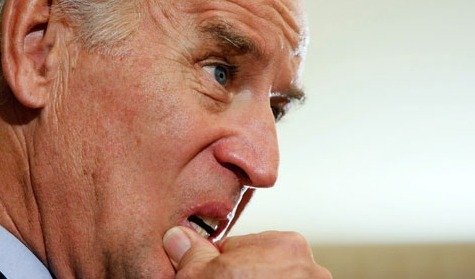Nos estudos internacionais se destaca, por sua importância teórica e empírica, a “tese da paz democrática”. Em síntese, esta tese apresenta três axiomas fundamentais: (a) o monádico: as democracias são mais pacíficas que os regimes autoritários; (b) o diádico: as democracias raramente fazem guerra umas contra as outras; e (c) o sistêmico: quanto mais democracias houver, mais pacífico será o sistema internacional. Um debate substantivo se desenvolveu ao longo dos anos entre proponentes e detratores desta tese; entretanto, parece necessário comentar a natureza problemática de sua utilização como dogma de política externa.
A tese tem sua origem normativa em um livro do filósofo Immanuel Kant de 1795: À Paz Perpétua. Duas máximas principais são apresentadas ali: a expansão de uma federação de repúblicas como fórmula para a paz mundial e a consulta de filósofos sobre suas condições de possibilidade. No entanto, a última aspiração de Kant era uma república mundial governada pelo direito cosmopolita e pela hospitalidade universal, uma distância fundamental dos usos contemporâneos da “tese de paz democrática”.
De que maneira o que tinha sido um exercício de reflexão se tornou um dogma? É a partir do presidente americano Woodrow Wilson, e seus famosos 14 Pontos pela Paz Mundial, que uma espécie de “ideologia missionária” foi estabelecida, encarregada de “evangelizar” outros cantos do mundo com os valores e a forma de governo estadunidense. Isto, ademais, torna-se uma pedra angular da Guerra Fria ao fornecer a base para a doutrina do Presidente Truman de 1947. Não é a divisão do mundo entre comunismo e capitalismo, mas entre democracia e autoritarismo, que delineia os contornos do confronto com a União Soviética.
A tese da paz democrática hoje
Longe de desaparecer com a queda do Muro de Berlim, a “tese da paz democrática” não deixou de espalhar sua atração entre as elites estadunidenses. Atingiu sua fama na mídia nos anos 1990 com o argumento do “fim da história” de Francis Fukuyama, Clinton a consagrou como eixo norteador de sua política externa, George W. Bush a levou ao extremo no Iraque e no Afeganistão com as “guerras ofensivas” após o 11 de setembro, Obama a reeditou na Líbia e com o impulso à “Primavera Árabe” e Trump a reivindicou em sua cruzada contra a empresa Huawei e o “autoritarismo chinês”. Nada se perde, tudo se transforma.
A recente publicação da Orientação Estratégica de Segurança Nacional Interina mostra uma administração Biden determinada a assumir uma linha cada vez mais rígida, dogmática e polarizadora sobre o desafio colocado por uma “China totalitária”. Apoiar as minorias uigures de Xinjiang, apoiar o movimento democrático de Hong Kong ou defender firmemente Taiwan são decisões que têm um fio condutor comum: a visão de um mundo dividido entre nações democráticas e ditaduras agressivas que procuram miná-lo, no qual somente os Estados Unidos, juntamente com uma liga de democracias, ofereceriam a tão almejada salvação.
Movimentos recentes como a proposta de reafirmar a OTAN trazendo a Índia, ou a tentativa de incluir a Coréia do Sul na aliança quadrilateral entre os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão conhecida como Quad são apostas arriscadas a favor de uma coalizão democrática à la carte para combater a China e a Rússia. Acrescente-se a isso uma postura mais intransigente em relação a Pequim, como testemunhado na fria reunião do Secretário de Estado Antony Blinken com autoridades chinesas em Anchorage, Alasca. Parte do problema é uma má percepção: os Estados Unidos acreditam que ainda podem falar com a China a partir de uma posição de força.
Biden e América Latina
Se a chamada restauração é para insistir que a democracia é o melhor sistema político, isso sugere que a administração Biden não está descartando pressionar os países latino-americanos e fazer intervenções a fim de “defender a democracia e os direitos humanos”.
As qualificações em um recente relatório do Departamento de Estado de “regime ilegítimo” para a Venezuela, “Estado autoritário” para Cuba e “regime corrupto” para a Nicarágua mostram o uso de linguagem mais sofisticada para identificar “ameaças iliberais”. A extensão do decreto que declara a Venezuela uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança ou o pronunciamento aberto sobre o Estado de direito na Bolívia prefigura o monitoramento de ferro, sanções econômicas e/ou ações encobertas, sem descartar o uso da força contra países alinhados com a China e a Rússia na região. É a geopolítica que está sob o véu.
Os presidentes dos EUA dizem que o mundo para estar seguro deve ser o mais parecido possível com os Estados Unidos. Felizmente, a tentação de impor mudanças de regime político em outros países à imagem e semelhança de Washington tem dois grandes contrapesos nos tempos atuais: a forte rejeição da sociedade americana de se envolver em “guerras eternas” e a afiação da polarização político-ideológica interna. Hoje, quando a democracia representativa mais antiga do mundo está passando por um dos momentos mais frágeis de sua história, a grande tarefa será demonstrar que o sistema ainda funciona.
*Tradução do espanhol por Maria Isabel Santos Lima
Foto de Floyd Brown na Foter.com