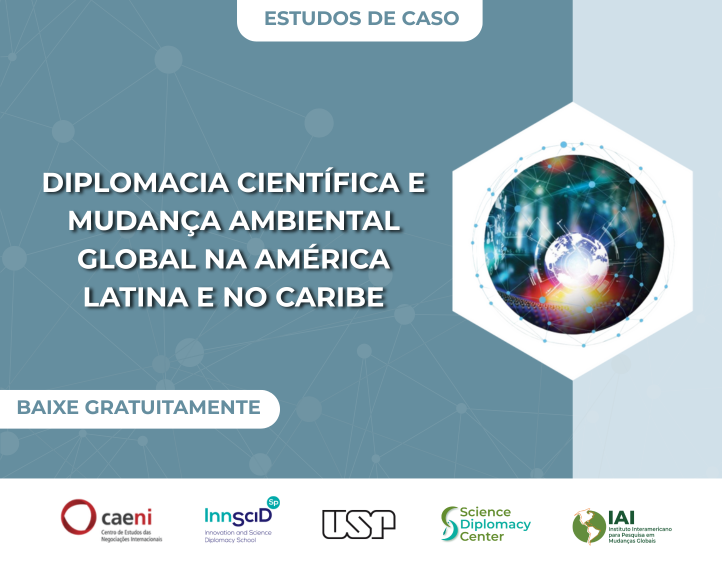A leitura da reaparição de Donald Trump à cena internacional como uma figura disruptiva não pode se limitar ao capricho de uma personalidade avassaladora. Com seu estilo provocador, ele não só gera confusão: também aplica (embora talvez de forma intuitiva) estratégias conhecidas na psicologia econômica. O “anchoring” descrito por Kahneman e Tversky — fixar um ponto de partida extremo para depois negociar a partir daí — aparece em suas posturas duras iniciais, que depois modera ao negociar tratados ou compromissos.
Trump é, em muitos sentidos, um sintoma, um catalisador; uma lente incômoda, mas útil, para ler os processos de reconfiguração global. Focar apenas no personagem ajuda a compreender o estilo de liderança e talvez sua estratégia política, mas nos deixa sem respostas.
Desde a crise financeira de 2008, passando pela pandemia, até os atuais conflitos armados — Rússia-Ucrânia, Israel-Hamas, Iêmen, Sudão —, assistimos a um momento de profunda instabilidade. Há várias situações em evolução. Os “aumentos tarifários” por parte de Trump, cujo último capítulo é a decisão do Canadá de pausar novos impostos sobre as tecnologias. O bombardeio estadunidense contra instalações do programa nuclear iraniano, com o consequente risco de uma escalada regional. Em suma, guerras quentes convivem com tensões crescentes no comércio mundial, disputas por matérias-primas estratégicas (como terras raras), urgências energéticas e desafios ambientais.
Trump, o “bulldozer” geopolítico
A geopolítica, em seus três níveis discursivos, está voltando ao centro do debate. Por um lado, é utilizada entre especialistas na academia. Ademais, há uma ampla produção por parte de governos e instituições como ONGs e think tanks, sobretudo desde a segunda metade do século XX. E, por outro lado, há um grande uso do discurso que Gerard Toal qualifica como “geopolítica popular”: vinculado à mídia, aos filmes e às conversas nas ruas. Basta olhar para a curva de pesquisas da palavra “geopolitics” no Google Trends para notar que o interesse das pessoas pela geopolítica cresce exponencialmente. Buscar padrões e tendências na gestão do território e o poder atual tem muito potencial analítico.
Nesse contexto, a psicologia nos ajuda a entender o fenômeno Trump, mas a análise vai além do comércio e da economia. Trump não é tanto o criador de uma nova política externa, mas sim um sinal dos tempos: reflete uma fratura interna dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, catalisa uma reordenação global.
Geografia e poder: a herança de Tucídides em uma chave contemporânea
Em um cenário onde a pax americana já não se sustenta em seus próprios termos, buscam-se explicações para a nova realidade. O politólogo Graham Allison resgatou o conceito da “Armadilha de Tucídides”, da tensão estrutural que ocorre quando uma potência emergente ameaça deslocar uma hegemônica, fazendo um paralelo entre Atenas e Esparta com China e Estados Unidos. Fareed Zakaria entende que entramos em um “mundo pós-norte-americano”, onde os Estados Unidos já não ditam as regras sozinhos, mas sim que a ascensão relativa de outras potências dispersa o poder.
Ejetados para uma nova reordenação, a retirada parcial dos Estados Unidos da cena global, mais gestual do que efetiva, abriu espaço para a multiplicação de atores estratégicos. A Europa enfrenta sua vizinhança instável (Rússia, Oriente Médio, Norte da África) enquanto tenta redefinir seu papel em matéria de defesa, imigração e energia. A Ásia, por sua vez, posiciona-se com determinação e estende seus tentáculos tecnológicos e logísticos pelo mundo, chegando à América Latina — que tem sido tradicionalmente o “quintal dos Estados Unidos” —, como demonstram o Porto Chancay no Peru, carros e baterias elétricas no Brasil, construção de parques solares e o centro de dados da Huawei, entre outros projetos.
A China não luta só pelo poder econômico; disputa narrativas. Citando Kishore Mahbubani, enquanto os Estados Unidos estão presentes na Ásia há um século, a China está lá há mil anos. E provavelmente continuará lá. Essa perspectiva histórica não só relativiza a influência ocidental, mas interpela as formas de leitura das mudanças globais: nem tudo pode ser observado a partir de Washington.
O Vietnã é um exemplo de como os atuais processos de industrialização, mediados pela globalização e pela tecnologia, reconfiguram as classes sociais e as estruturas econômicas. Sociedades que absorvem a população camponesa para o trabalho industrial em crescimento, frente a outras — como muitas ocidentais — onde a classe média envelhecida e precária experimenta a deterioração como perda relativa. São duas dinâmicas temporais e estruturais distintas, em competição assimétrica. A isso se somam políticas públicas de desenvolvimento com janelas temporais diferentes.
Na China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Índia ou Rússia, há estratégias de desenvolvimento orientadas ao longo prazo que estão dando frutos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma visão de curto prazo resulta em setores internos com velocidades diferentes. Uma espécie de “dumping político” funciona entre sistemas que conseguem sustentar uma estratégia econômica e política, entre outras circunstâncias, à custa da falta de alternância no governo e da supressão da oposição, em comparação com as democracias, nas quais o prazo de validade dos mandatos muitas vezes não consegue manter objetivos de médio ou longo prazo. Na América Latina, sofre-se o pior dos dois mundos. Há 500 anos, vive-se uma inserção assimétrica na economia que gera desigualdade social interna e impactos ambientais muito fortes.
Trump, mais do que Trump: o produto de uma erosão estrutural
Voltando à figura de Trump, propomos uma visão que excede a psicologia ou a moralidade do personagem. Trump não é só uma anomalia. É, em todo caso, uma consequência dos desajustes dentro de um sistema econômico e político desgastado. Os Estados Unidos experimentam uma fratura interna marcada pelo enfraquecimento de sua classe média, pela concentração de poder nos setores financeiros e pelo empobrecimento de amplas camadas sociais há décadas.
A globalização foi o verdadeiro tsunami das últimas três décadas. Alterou as cadeias de valor, deslocou centros produtivos, fragmentou sociedades. E fez isso de maneira desigual. Enquanto algumas elites globalizadas ganharam acesso a novos mercados e recursos, outras — mais nacionais, menos móveis —, mas não necessariamente as classes baixas, começaram a perder terreno. Trump, assim como outras figuras como Bolsonaro, Le Pen ou Milei, expressa essa tensão.
Não se trata, então, de avaliar se Trump tem razão, mas de compreender o que seu êxito político está nos dizendo. Talvez seu mérito seja ter apontado (intencionalmente ou não) que o sistema global está se desintegrando. A perda de competitividade e influência dos Estados Unidos leva Trump a testar medidas unilaterais que tensionam ainda mais o tabuleiro, desde ataques preventivos a inimigos estratégicos até pressões comerciais sobre parceiros históricos como o Canadá. Mas também obriga atores intermediários — Europa, América Latina, Sudeste Asiático — a repensar suas próprias margens de manobra.
A América Latina diante do tabuleiro agitado
A questão-chave não é tanto se as regiões ou países devem apoiar ou rejeitar os Estados Unidos ou a China, ou com que lógica jogar no curto prazo no mercado tarifário ou no da estridência comunicacional, mas como se posicionar neste mundo reconfigurado. Com vasto território, recursos naturais estratégicos e ainda uma janela demográfica ativa, países como Brasil ou Argentina têm oportunidades que não devem ser desperdiçadas em leituras reativas ou viscerais. A geopolítica pode e deve ajudar a pensar estrategicamente: a partir de nossa localização, de nossos interesses, de nossas capacidades.
Responder às medidas unilaterais de Trump com represálias puramente emocionais ou mecânicas — aumentando tarifas, por exemplo — pode ser tão ineficaz quanto ingênuo. O que é necessário é uma leitura complexa, multidisciplinar, capaz de articular economia, sociologia, história e política externa. Uma leitura que entenda que o mundo não é unívoco e que lideranças carismáticas — sejam de direita ou de esquerda — não podem substituir a análise estrutural. Os consensos que transcendem os ciclos políticos são os que, a longo prazo, beneficiarão nossas economias e sociedades.
Menos curto prazo, mais realismo
A atual incerteza geopolítica não desaparecerá tão cedo. A ordem global está em disputa, as narrativas se multiplicam, os atores se reconfiguram. Trump — amado ou odiado — não é o começo nem o fim do processo. É um espelho quebrado que reflete múltiplas crises: a do modelo neoliberal, a do multilateralismo, a da confiança nas elites. Compreendê-lo requer algo mais do que condenações morais ou simpatias ideológicas.
Se a geopolítica volta ao centro da análise, é porque precisamos de ferramentas complexas para pensar um mundo que se tornou interconectado e, ao mesmo tempo, competitivo. E, como nos lembra a história, não há erro pior do que enfrentar uma crise com estruturas antigas. Trump não é o terremoto, é a rachadura. E se não mudarmos a lente, veremos apenas os escombros, não as estruturas que continuam a ruir sob nossos pés.
*Tradução automática revisada por Isabel Lima