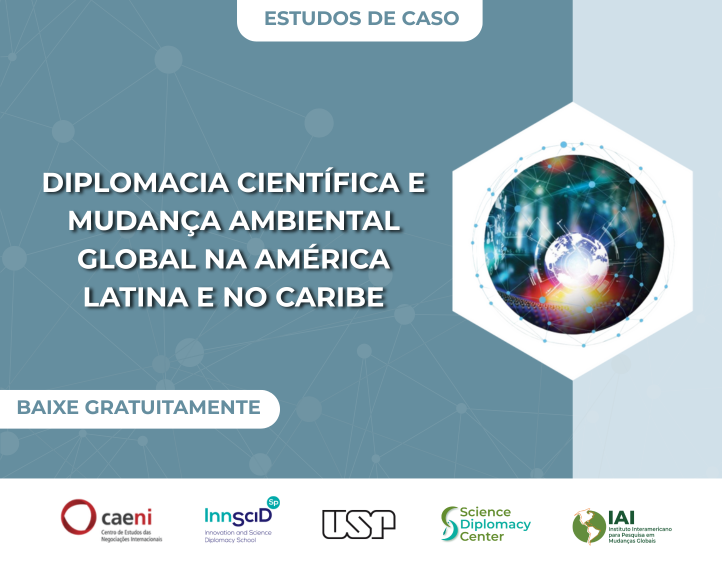Frequentemente, quando ocorre uma tempestade, furacão, erupção vulcânica ou terremoto, persiste o hábito de se falar em um “desastre natural”. No entanto, as forças da natureza só explicam parte da equação em um desastre, e às vezes nem mesmo a parte mais significativa.
Os riscos naturais se transformam em desastres como resultado de decisões ou omissões acumuladas nos processos de desenvolvimento, que incluem a ocupação e o uso da terra, as prioridades de investimento e as normas ou regras que são seguidas ou ignoradas. Um desastre, visto assim, é uma construção social, e não natural ou física.
Os desastres não são fenômenos puramente naturais, mas sim o resultado da interação entre ameaças físicas, naturais ou construídas por intervenção humana (sociais, tecnológicos, bióticos), e as condições sociais, ambientais e econômicas existentes. Isso é reconhecido no Relatório Regional de Desenvolvimento Humano 2025, Sob Pressão: Recalibrando o futuro do desenvolvimento, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Essa perspectiva exige superar o controle ou a antecipação de riscos como processos sociais, integrado ao processo de desenvolvimento sustentável, para antecipar, prevenir e reduzir exposições e vulnerabilidades em um contexto de crescente incerteza.
Casos emblemáticos na região ajudam a explicar por que o desenvolvimento humano resiliente requer uma mudança de paradigma na gestão de riscos. O primeiro é o de Choloma, no norte de Honduras, onde o auge das atividades de maquila multiplicou o emprego e a renda, ao custo da urbanização acelerada nas margens dos rios, áreas úmidas e bacias hidrográficas preenchidas com resíduos. Muitas ordenanças existentes foram desrespeitadas e a capacidade municipal de fornecer serviços e manter os cursos d’água ficou aquém do ritmo dos investimentos. Quando as fortes chuvas chegaram em 2017 devido aos furacões Maria e Irma, a cidade não sofreu uma “surpresa climática”, mas sim enfrentou as consequências de décadas de decisões que normalizaram a exposição e ampliaram a vulnerabilidade.
A erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, em junho de 2018, oferece outra reflexão, desta vez sobre a distribuição desigual da proteção contra desastres. A vila de San Miguel Los Lotes, habitada por famílias de baixo nível socioeconômica, foi devastada, com centenas de vítimas, enquanto a poucos quilômetros de distância, um complexo turístico — com protocolos de contingência, simulações, seguro e coordenação com as autoridades — conseguiu evacuar a tempo e evitar perdas humanas, embora tenha sofrido graves danos em sua infraestrutura. O mesmo perigo, resultados opostos.
Por trás dessa divergência, quatro fatores são evidentes: diferentes capacidades institucionais e comunitárias, fluxo desigual de informações, diferenças no zoneamento do uso do solo e uma confiança diferenciada nas instituições, retardando os sistemas de alerta precoce.
Resiliência: de slogan a critério de desenvolvimento
Se o risco é socialmente construído, a resiliência não deve ser reduzida a um mero elemento retórico ou a um “componente” agregado ao final dos projetos. Ela deve operar como critério de desenvolvimento desde o início: planejar, financiar e executar políticas, obras e programas públicos com filtros de risco, associados a cenários de múltiplas ameaças e adaptação às mudanças climáticas, incorporados desde a fase de projeto. A questão não é só como responder melhor ao próximo desastre, mas como impedir que ele aconteça.
A experiência em pesquisa forense de risco indica que, para alcançar esse objetivo, é necessário agir principalmente em quatro frentes de mudança. A primeira é a terra. Áreas como margens de rios, zonas de recarga hídrica, encostas instáveis e zonas costeiras críticas não podem ser tratadas como “terras disponíveis”, e é necessário impedir que a pressão imobiliária empurre as famílias mais pobres para as áreas mais perigosas.
A segunda é o meio ambiente como política de redução de riscos. A degradação de bacias hidrográficas, manguezais e cobertura vegetal transforma chuvas intensas em inundações e encostas íngremes em deslizamentos de terra. Restauração ecológica, controle da extração de agregados e aterros sanitários, e gestão de resíduos não são medidas “verdes” decorativas, mas sim peças de um sistema de segurança coletiva.
A terceira é a proteção social como amortecedor de choques. Reduzir a pobreza e a desigualdade, que incitam os riscos cotidianos, é, em si, uma redução de risco de desastres. Moradias seguras, acesso à água e saneamento, rendas estáveis, seguros inclusivos e serviços públicos robustos fazem a diferença entre um susto e uma tragédia.
O quarto fator é o orçamentário. A maioria dos recursos vinculados a riscos é consumida para alertar, responder e reconstruir. É essencial inverter essa lógica, passando de uma abordagem compensatória-reativa para uma prospectiva-sustentável: incorporar filtros de risco e clima nos bancos de projetos, proteger orçamentos preventivos, alinhar incentivos fiscais para que municípios que evitam criar novos riscos recebam financiamento prioritário e desincentivar a corrupção em processos de ocupação do território, entre outros. Não se trata de gastar mais, mas de gastar de forma diferente.
Todos esses elementos foram destacados como parte do documento de trabalho do Relatório Regional de 2025 intitulado “Redefinindo a resiliência socioambiental no âmbito do desenvolvimento humano: desastres, riscos e resiliência na América Latina e no Caribe”, que fundamentou as conclusões gerais do Relatório.
Olhar para o espelho e agir
Mais de 80% da população da região vive em cidades, e o crescimento mais rápido se concentrará nas cidades pequenas e médias, precisamente onde as capacidades técnicas e fiscais são mais limitadas. Se a inércia prevalecer, se consolidarão territórios muito caros de corrigir e muito baratos de danificar. A janela de oportunidade está no cotidiano: cumprir normas, manter drenagens, organizar bairros com as instituições e premiar orçamentariamente a prevenção e os alertas precoces com participação comunitária.
Choloma e Los Lotes não são anomalias: são advertências. A primeira lembra que o emprego e a demanda por crescimento de curto prazo sem salvaguardas territoriais produzem risco como subproduto. A segunda evidencia que, diante do mesmo vulcão, a desigualdade de capacidades e o contexto social que as define decidem quem se salva.
Se o desastre é o espelho, o que ele reflete não é a imagem de um clima caprichoso, mas a de um modelo de desenvolvimento que tolera a informalidade como válvula de escape, celebra investimentos sem controles e reserva a proteção para quem pode pagá-la. Mudar essa imagem requer coerência, continuidade no tempo e uma regra simples para orientar políticas públicas e privadas que pode se inspirar no Juramento Hipocrático: “primeiro, não fabricar risco”.
Responder, reconstruir e recuperar mais rápido e melhor continuará sendo essencial, e será mais eficiente e equitativo se o desenvolvimento incorporar a análise de riscos desde o início. A investigação forense de riscos serve de ponte entre o diagnóstico e a mudança institucional, e é um dos instrumentos que podem promover o desenvolvimento humano resiliente.
Tradução automática revisada por Isabel Lima