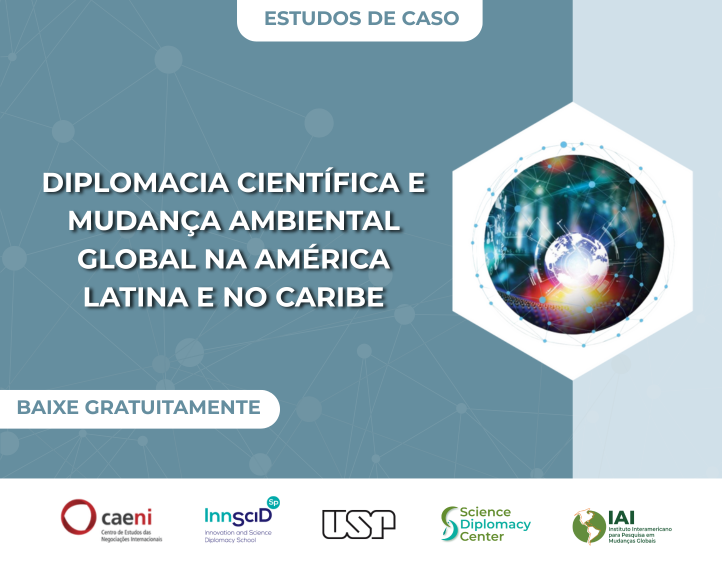A Administração Pública (AP) está associada à burocracia e à estrutura do Estado, de acordo com teóricos como Alexis de Tocqueville, Jean Bonin, Dwight Waldo ou Woodrood Wilson, para citar alguns. Entretanto, a AP também é uma ciência social que contribui para o diagnóstico dos problemas da sociedade. Trata-se de uma das ciências com maior impacto na vida das pessoas, uma vez que a segurança, os serviços públicos, a educação e a saúde, entre outros, estão intimamente ligados à vida cotidiana.
É importante observar que a AP não é estática, mas passou por várias mudanças ao longo do tempo. Em O Antigo Regime e a Revolução, Tocqueville apontou que foi a burocracia que sobreviveu ao colapso dos absolutismos. Weber, por sua vez, analisou a organização do Estado prussiano, que era o mais eficiente, eficaz e efetivo na implementação de políticas públicas. Entretanto, com a chegada do século XX, a administração foi transformada e influenciada por outras escolas.
Entre 1920 e 1932, o taylorismo e o fordismo influenciaram a administração, apelando para o consumo, a eficiência e a divisão social do trabalho. Entre 1940 e 1950, surgiu a escola das relações humanas, que promoveu a análise das organizações por meio dos indivíduos e de seu comportamento. Ao mesmo tempo, surgiu a chamada Escola da Contingência, focada na análise das organizações por meio dos estímulos internos e externos aos quais elas estão expostas.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as ciências sociais ganharam destaque e foram marcadas pelo triunfo da democracia liberal sobre os fascismos. A AP não foi exceção e adotou uma abordagem bidimensional centrada em 1) democracia eleitoral e liberal e 2) a formação do estado de bem-estar social, ou seja, um modelo intervencionista que redistribuía a riqueza e tentava reduzir as lacunas de desigualdade.
Durante a década de 1970, o estado de bem-estar social perdeu força e deu lugar a um estado mínimo, focado na não intervenção na economia e baseado no dogma de que o mercado se regula sozinho. A entrada do projeto de desregulamentação teve impacto na administração pública, dando lugar à Nova Gestão Pública (NGP), focada na inclusão de princípios de empresas privadas no Estado e, assim, corrigindo males como corrupção, ineficiência e sua robustez, já que contava com várias empresas.
O mundo começou a testemunhar a ascensão de presidentes e primeiros-ministros que não eram necessariamente gerentes por formação, mas que promoveram a NGP por meio de suas políticas de desregulamentação. Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, foram as principais figuras que promoveram a liberalização econômica, as privatizações de empresas estatais e a redução da intervenção do Estado na economia.
Esses personagens concentraram seus projetos na lucratividade das empresas para a economia de suas nações. Estamos falando de eventos como o fechamento de minas no Reino Unido e os protestos de rua que desafiaram Thatcher ou o projeto Reaganomics, focado na redução do imposto sobre o petróleo e na simplificação do sistema tributário. Essas decisões buscavam sanar as economias, eliminar o movimento tarifário e combater a corrupção que havia se desenvolvido nos governos anteriores.
Sociólogos como Naomi Klein o chamaram de doutrina do choque, ou seja, a aplicação de um tratamento agressivo contra a doença, ou seja, a crise econômica. Na América Latina, a NGP foi acompanhada por governos militares, como os de Augusto Pinochet no Chile e Rafael Videla na Argentina; ambos os generais estavam sob o guarda-chuva da doutrina de segurança nacional, promovida por Henry Kissinger, mas também tinham um projeto econômico. Esses governos privatizaram várias empresas, pois o objetivo era reduzir a carga fiscal sobre a economia.
Durante as décadas de 1980 e 1990, a América Latina foi governada por uma série de presidentes que são classificados como parte da NGP. Na ciência política, esse período coincidiu com a ascensão dos chamados neopopulistas, referindo-se a personagens carismáticos com discursos que prometiam eliminar os problemas herdados por meio da desregulamentação econômica. Todos foram eleitos democraticamente, mas alguns, uma vez no poder, optaram pelo autoritarismo.
Um neopopulista como Alberto Fujimori, no Peru, que governou com poderes absolutos de 1992 a 1999, conseguiu isso em parceria com o grande capital do país e adotando o Consenso de Washington. Na Argentina, Carlos Menem privatizou cerca de 80 empresas estatais nos setores de mineração, militar e de telecomunicações, entre outros. Enquanto isso, no México, o projeto de desregulamentação foi acompanhado pelo partido então hegemônico, o Partido Revolucionário Institucional (PRI).
O PRI promoveu Carlos Salinas de Gortari, que, como presidente, prometeu adotar o liberalismo social, ou seja, deu outro nome ao projeto neoliberal. Salinas conseguiu renegociar a dívida externa do México, vendeu empresas que não eram lucrativas para o Estado e gerou um novo crescimento econômico. Uma característica de seu governo é que o gabinete era composto por membros que haviam estudado nas melhores escolas dos Estados Unidos: a Universidade de Chicago, Yale e Harvard.
Vários outros presidentes de esquerda de longa data e críticos das grandes potências também adotaram políticas de livre mercado. No Brasil, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que, em seu texto conjunto com Enzo Faletto, Dependência e Desenvolvimento Econômico na América Latina, criticou o imperialismo econômico, acabou tendo que aderir ao modelo de livre comércio quando se tornou presidente.
Em outras latitudes, como na Europa Oriental e na Ásia, a história teve algumas variações. Durante a terceira onda de democratização, de acordo com Samuel Huntington, os antigos países soviéticos adotaram economias de livre mercado e democracias parlamentares; no entanto, os processos pelos quais passaram apenas consolidaram estados mafiosos, ou seja, o poder político e econômico foi unificado em uma elite empresarial associada ao governante no cargo.
A Rússia é o maior exemplo disso. Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Federação Russa; durante seu mandato, ele vendeu empresas estatais para ex-membros dos soviéticos, criando uma oligarquia. Quando ele foi sucedido por Vladimir Putin, que alternou o poder como primeiro-ministro e presidente, as privatizações continuaram. A diferença em relação ao seu antecessor é que Putin cooptou as elites econômicas, o que lhe permitiu permanecer no poder e eliminar qualquer vestígio de oposição real.
Putin não submeteu o poder econômico ao seu poder autocrático, mas criou uma relação simbiótica – eles precisam um do outro para sobreviver. A Rússia não é uma democracia, mas as empresas não parecem se importar, desde que continuem obtendo benefícios. Na Ásia, por outro lado, a história da modernização é marcada pela Nova Gestão Pública e por autoritarismos.
Países como a Coreia do Sul, Cingapura e Filipinas foram marcados por autoritarismos que abraçaram o livre mercado. No caso da Coreia do Sul e do arquipélago filipino, as ditaduras militar e personalista, respectivamente, foram essenciais para integrar esses países à globalização. No caso de Cingapura, o partido hegemônico Ação Popular governa desde a independência, mas se adaptou às mudanças econômicas em um mundo interconectado.
Todos os casos acima estão associados à Nova Gestão Pública, pois foram adotadas abordagens do setor privado para implementar modelos de livre mercado. Em alguns casos, o autoritarismo acompanhou a desregulamentação econômica, seja por governos autoritários civis ou militares; em outros, foi um projeto que transcendeu as presidências; e em alguns outros, coexistiu com a democracia liberal.
Vale a pena observar que os líderes descritos acima não são os únicos ligados à NGP; o mundo está testemunhando a ascensão de outros com conotações empresariais mais pronunciadas. Para mencionar apenas alguns, Donald Trump e o apoio que lhe foi dado por gigantes da tecnologia como Musk, Bezos ou Zuckerberg; Nayib Bukele e suas inovações em criptomoedas; Javier Milei, que governa a Argentina como uma empresa privada, ou Xi Jing Ping, que guiou a China rumo à conversão tecnológica.
Tradução automática revisada por Giulia Gaspar.