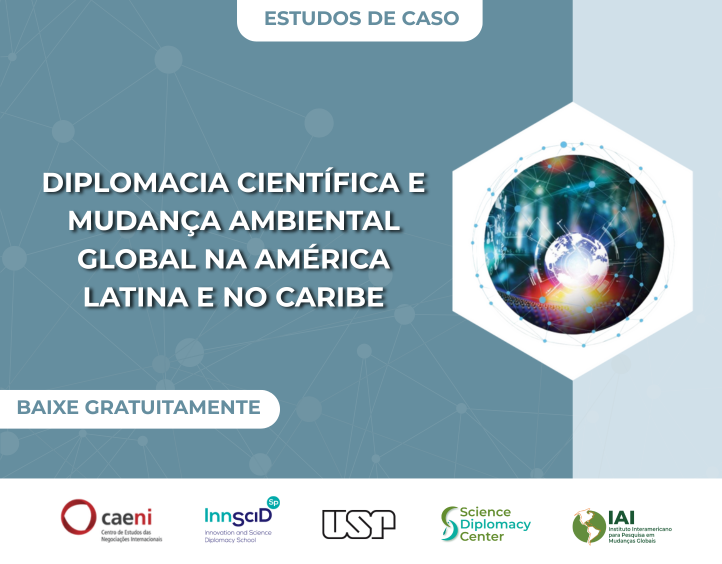A internet nasceu como uma promessa de conexão. Duas décadas depois, parece mais um campo de batalha: um espaço de discursos em conflito, de identidades opostas, de polarização permanente. No entanto, entre o ruído e o algoritmo, começam a surgir pequenas comunidades que devolvem algo que acreditávamos perdido: a capacidade de estarmos juntos, mesmo que de forma mínima, irônica ou ritualística.
Em meio ao cansaço da exposição e da fragmentação, certos espaços digitais funcionam como refúgios simbólicos. Não são grupos ideológicos ou militantes e, sem querer, se tornaram nichos de afeto, humor e reconhecimento mútuo. Lugares onde a presença — esse simples ato de aparecer, comentar, participar — se transforma em uma forma de micropolítica do afeto, uma prática de resistência mínima contra a solidão digital e a polarização.
O retorno do ritual na era digital
Byung-Chul Han sustenta que a modernidade tardia eliminou os rituais: os gestos repetitivos essenciais para dar estabilidade à vida, coesionar as comunidades e transmitir valores compartilhados. “Apesar das redes sociais, estamos mais sozinhos do que nunca”. O auge da comunicação digital sem pausa permitiu conectar muitas pessoas, mas sem criar relações duradouras; o indivíduo se sente desorientado e inibido, sempre com a possibilidade latente de ser repreendido ou cancelado nas plataformas online.
Mas talvez os rituais não tenham desaparecido completamente, mas estejam se reinventando nos lugares menos esperados. Os algoritmos, com sua insistência na repetição, no ciclo e na espera, parecem ter gerado novas liturgias digitais. Cada reel, cada comentário, cada presença reiterada funciona como um pequeno ritual contemporâneo.
Laboratórios do algoritmo: dois casos argentinos
De Rosário, uma jovem mostra modelos de roupas em sua conta no Instagram, @cofco.shoes. À primeira vista, é mais uma vitrine comercial. Mas, por baixo de cada vídeo, ocorre algo incomum. Uma comunidade de homens comenta com um código próprio — absurdo, cativante, poético: “Deixo aqui o cronograma da Fórmula 1.” “Olá, pessoal, amanhã tem truco no Jorgito.” “Vou ser pai de novo.” Não há assédio nem sarcasmo, mas sim um jogo compartilhado. Um humor terno que funciona como uma senha afetiva. Ninguém fala sobre os produtos oferecidos, mas todos entendem por que estão lá: esperam para dar seu presente em uma solidariedade tácita e irônica.
De Buenos Aires, @bacaraok, uma pequena empresa familiar de alfajores, protagoniza um fenômeno espelho. Lá, dois irmãos apresentam seus produtos com uma simpatia simples. Desta vez, porém, são mulheres que comentam, com descaramento e cumplicidade. “Não consegui ouvir direito, meus olhos ficaram confusos”. “Preciso provar o produto para ver se gosto do alfajor”. O tom é humorístico, brincalhão, coral: uma ironia que, se viesse de uma comunidade masculina, provavelmente seria censurada. Não há competição entre elas; elas se celebram mutuamente.
Na Cofco, os homens suavizam o desejo; na Bacará, as mulheres o celebram. Em ambos os casos, constrói-se uma comunidade afetiva que subverte as lógicas habituais do consumo e do gênero.
Linguagem, desejo e performance
As plataformas digitais se tornaram palcos de comunidades performáticas. Não são só espaços de intercâmbio simbólico, mas laboratórios onde se ensaiam modos possíveis de vínculo. Se, como advertia Erving Goffman, toda vida social requer uma encenação, as redes amplificam essa dramaturgia até torná-la muitas vezes uma forma primordial de comunicação.
Goffman aponta que cada interação social é uma encenação. Não se comunica só uma informação: interpreta-se um papel, sustenta-se uma imagem. No ecossistema digital, essa dramaturgia cotidiana adquire outra forma: cada comentário, cada emoji é uma pequena performance. Repetições, ironias, intervenções breves implicam uma presença na cena www, mas não cara a cara.
Roland Barthes observava que a linguagem do amor não é transparente, mas elíptica: é feita de silêncios, de rodeios, de signos flutuantes. A presença repetida — aquele “estou aqui, como segunda” — funciona como uma declaração dissimulada, uma forma de permanência emocional na era da fugacidade.
O afeto como infraestrutura
Lauren Berlant fala de espaços de apego e identificação, onde o pertencimento é construído através do afeto mais do que da ideologia. As comunidades digitais muitas vezes funcionam assim: não são organizações nem coletivos, mas permitem um sentimento de pertencimento e um tipo de cuidado difuso, afetivo.
Nesses casos, o afeto se manifesta na espera. Na Cofco, os homens aguardam cada vídeo como quem espera uma visita querida. Na Bacará, as mulheres se reúnem entre risadas. São presenças efêmeras, mas reiteradas no tempo. É justamente na repetição que se produz o vínculo: o algoritmo, sem querer, encontra padrões que ninguém consegue explicar e une pessoas por meio de uma sensibilidade compartilhada.
Micropolítica do afeto
Enquanto a conversa digital global se polariza, surgem zonas cinzentas de convivência afetiva. Em vez de debate ou confronto, há jogo. Em vez de solenidade, há cumplicidade. Nesses espaços, o humor funciona como micropolítica de fuga para um lugar de cumplicidade compartilhada.
Nancy Fraser lembrava que as lutas por reconhecimento são tão políticas quanto as lutas por redistribuição. Nesse sentido, o que ocorre na Cofco ou na Bacará não é banal: são cenas de reconhecimento mútuo em tempos de desencanto coletivo.
Em um ambiente saturado de “curtidas” vazias e discursos hostis e polarizadores, esses pequenos rituais de comentários e presença são gestos de resistência suave. Não buscam consenso nem épica: apenas sustentar uma comunidade mínima. Mas é aí que reside seu poder.
Talvez, no fluxo contínuo do digital, a Internet esteja produzindo, sem saber, espaços para uma nova sociabilidade: uma que não depende do acordo ideológico nem busca possuir ou convencer, mas simplesmente estar; uma sociabilidade que não se baseia na razão, mas no afeto. Nas margens do consumo, em cantos escondidos das redes, persistem os impulsos de encontro, empatia e comunidade que sustentam os laços sociais.
Tradução automática revisada por Isabel Lima