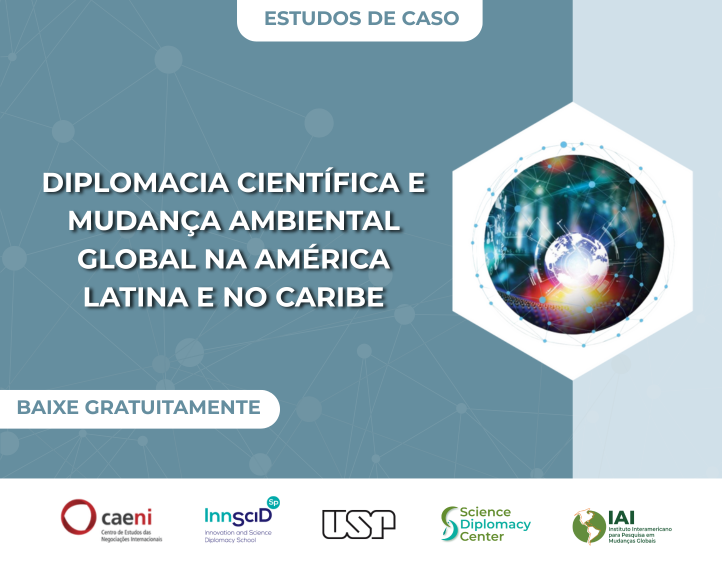Há décadas, a América Latina se acostumou a que a política invadisse pela porta dos fundos e, sem pedir permissão, se sentasse à cabeceira da mesa. Quando, em 1990, um engenheiro agrônomo de ascendência japonesa chamado Alberto Fujimori derrotou o laureado Vargas Llosa no Peru, os analistas intuiram que algo havia mudado no vínculo entre cidadania e representação; quando Hugo Chávez irrompeu oito anos depois pela fresta do antipartidismo venezuelano, a intuição se tornou padrão. E quando, já na terceira década do século, um comediante sem crédito partidário como Jimmy Morales se levantou na Guatemala, um professor rural como Pedro Castillo surpreendeu no Peru e um economista libertário como Javier Milei cavalgou a indignação argentina, ficou claro que os outsiders não eram uma anomalia, mas um sintoma inevitável da época.
Assim, a surpresa global com a eleição de Donald Trump, a de um humorista televisivo como Volodymyr Zelensky ou a ascensão meteórica de Emmanuel Macron nos pareceu estranhamente familiar. Para o sul do Rio Bravo, que um magnata, um comediante ou um tecnocrata sem aparato próprio conquistasse o poder às custas da irritação popular era, mais do que excentricidade, uma rotina, produto de décadas de tentativa e erro. Isso nos dizia algo, não só sobre nosso sistema político regional, mas sobre a dinâmica global da representação e como as sociedades canalizam suas frustrações quando os canais tradicionais ficam obstruídos.
Por que fomos pioneiros? Porque a região acumulou, antes e com mais crueza, três fraturas que agora percorrem o Ocidente: promessas democráticas frustradas por sucessivas crises fiscais, sistemas partidários incapazes de metabolizar protestos e um presidencialismo personalista que a cultura popular assume sem escândalo. A isso se somou um ecossistema midiático que, do talk-show televisivo ao algoritmo, premiou a estridência instantânea. Fujimori cantava canções natalinas em spots caseiros e apresentava sua família como prova de “honestidade, tecnologia e trabalho”; Chávez transformou a rede nacional em um reality show perpétuo; Milei gritava “Fora com a casta!” em estúdios transformados em coliseus econômicos enquanto brandia motosserras como símbolo de purgação. A desintermediação que a Europa descobre hoje no TikTok, a América Latina experimentou com a televisão crioula dos anos 90: câmera próxima, mensagem direta e uma épica salvação que pulava por cima de Congressos, partidos e especialistas.
No entanto, não se deve confundir o mensageiro com a febre. Cada outsider vencedor expõe falhas estruturais — corrupção, desigualdade, desencanto cultural — que a política convencional se recusa a admitir. Demonizá-los só reforça seu discurso antielitista e, pior ainda, ignora que o eleitor avalia os resultados com pragmatismo feroz. Fujimori foi premiado ao domar a hiperinflação e perdeu legitimidade ao forçar um autogolpe; Chávez manteve a devoção popular enquanto a renda do petróleo financiava missões sociais e a evaporou ao ritmo da escassez; Milei será julgado por sua capacidade de domar os preços e recuperar o salário real, não por sua estridência dialética. O êxito ou fracasso desses projetos depende menos de seu espetáculo e mais do grau em que convertem a frustração em bem-estar tangível, segurança cotidiana e horizonte de mérito para milhões que carecem disso.
A experiência latino-americana traz, portanto, três lições úteis ao debate global. Primeira: a resposta não pode ser blindar a política contra a cidadania, mas modernizá-la com primárias abertas, controle público em tempo real e financiamento transparente que reduza a distância moral entre representantes e representados. Fechar as comportas só aumenta a pressão de águas turvas atrás da represa. Segundo: os partidos que sobrevivem não são mais máquinas clientelistas nem catedrais ideológicas blindadas, mas plataformas porosas capazes de abrigar movimentos, causas e lideranças emergentes, mesmo aqueles que incomodam a velha guarda. Terceiro: a competição substantiva é pelo futuro, não pela nostalgia — embora às vezes não pareça. Quando a oferta dominante se refugia no passado — ou em um presente que não convence a cidadania —, o terreno fica livre para o “que se vão todos” com a promessa de uma refundação expressa.
Olhar para os outsiders com pânico moral ou com suficiência acadêmica impede reconhecer que eles se alimentam de demandas legítimas: representação eficaz, ética pública e resultados palpáveis. O politólogo Guillermo O’Donnell alertou sobre as “democracias delegativas”, regimes que se legitimam nas urnas, mas concentram o poder executivo por meio de plebiscitos em contextos de Estado fraco. Hoje, quando os Estados ocidentais votam à beira da fratura social e flertam com a política-reality show, essa advertência soa menos como jargão acadêmico e mais como um manual de primeiros socorros constitucionais.
Mais do que nos perguntarmos como deter os outsiders, convém questionar o que a ascensão deles revela sobre nossas democracias. O maior risco não é que um comediante, um magnata ou um economista heterodoxo chegue ao poder; o perigo é que, após seu mandato, as causas profundas da frustração permaneçam intactas e se cronifique uma política volátil que entra em erupção a cada poucos anos, sem solução alguma. A América Latina, pioneira involuntária, oferece um espelho com veios de advertência e oportunidade. Nos lembra que a representação política, como a crosta terrestre, se racha quando a pressão social não encontra válvulas de escape. E também ensina que as rachaduras podem ser seladas se as instituições forem atualizadas, se os partidos se abrirem — por que não, inclusive, a certos outsiders domesticados — e se a cidadania se tornar supervisora cotidiana, não simples espectadora entre eleições.
Em última análise, os outsiders não são a exceção: são o lembrete de que a democracia é um processo disputado e vivo, cuja legitimidade se renova projeto após projeto e voto após voto. Ignorar essa verdade tectônica seria, sim, a verdadeira anomalia.
Tradução automática revisada por Isabel Lima