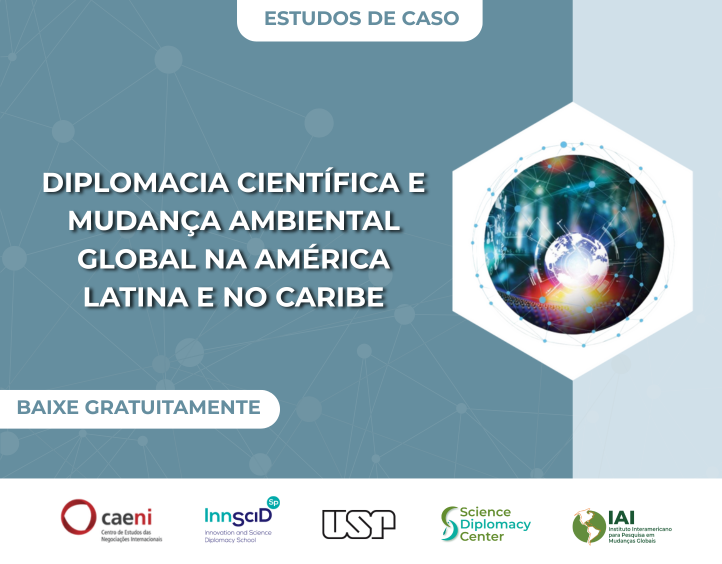Em 3 de setembro, os Estados Unidos lançaram um ataque naval na costa da Venezuela, matando onze indivíduos que Washington identificou como narcotraficantes. Imediatamente, o presidente Donald Trump anunciou uma recompensa de US$ 50 milhões pelo presidente Nicolás Maduro e ordenou uma onda naval adicional na região, apresentando a medida como parte de uma campanha antidrogas. Mas esse enquadramento oculta uma realidade muito mais profunda: esta é a demonstração mais dramática até agora do retorno de Washington à coerção militar unilateral, o que ocorre em um momento em que a ordem internacional liberal está em desordem.
Este ataque não é um episódio isolado; representa o culminar de várias tendências sobrepostas: o colapso interno da Venezuela, a erosão das restrições multilaterais ao poder dos Estados Unidos e o ressurgimento de uma cosmovisão que equipara força com razão. Na verdade, sinaliza que as normas que moldaram a política internacional após 1945 agora estão por um fio.
Uma crise criada pela Venezuela
A situação da Venezuela é, em grande parte, autoinfligida. Outrora vitrine da prosperidade latino-americana, o país tornou-se vítima de sua própria dependência dos hidrocarbonetos. Quando os preços do petróleo despencaram durante a década de 2010 e a produção vacilou sob uma grave má gestão, os fundamentos econômicos desmoronaram. A hiperinflação atingiu níveis astronômicos e os bens essenciais desapareceram.
As consequências humanitárias têm sido catastróficas. Mais de sete milhões de venezuelanos fugiram desde 2015 e, hoje, a Venezuela não é um Estado falido e nem funcional: é um petro-Estado em queda livre, preso entre rivalidades de grandes potências e redes criminosas.
Por que a força é uma ilusão
Nesse contexto, o recurso de Trump à ação militar pode parecer decisivo, mas a história nos mostra o contrário. A mudança de regime pela força é uma ilusão perigosa. Do Iraque em 2003 à Líbia em 2011, as intervenções lançadas com promessas de êxito rápido terminaram em colapso estatal e caos prolongado. A lição é inequívoca: desmantelar regimes é muito mais fácil do que reconstruir Estados.
A Venezuela não é uma exceção. Suas densas florestas, terreno acidentado e fronteiras porosas são terreno ideal para a guerra de guerrilha. Grupos armados, desde remanescentes rebeldes colombianos até milícias alinhadas com o regime, prosperariam em uma insurgência, evocando a analogia vietnamita: um poder tecnologicamente superior afogando-se nos pântanos do conflito assimétrico.
Além dos riscos do campo de batalha, existem lacunas estruturais. A burocracia venezuelana está destruída; tecnocratas e funcionários públicos fugiram. A oposição, fragmentada e desacreditada, carece tanto de credibilidade quanto de capacidade. Remover Maduro sem um plano de governança provocaria uma guerra civil, aprofundaria a anarquia e exigiria uma ocupação estrangeira prolongada, provavelmente financiada pelas reservas petrolíferas da Venezuela, perpetuando a maldição dos recursos sob uma nova aparência.
Este é precisamente o pesadelo esboçado por analistas como Sean Burges e Fabrício Bastos, que já alertaram em 2018 que a intervenção “desperdiçaria tempo valioso” enquanto agravaria a fragilidade institucional. Eles enfatizaram que a sobrevivência de Maduro depende de pactos entre a elite e os militares; alterá-los poderia mergulhar a Venezuela em uma violência ainda mais profunda. E mesmo que a mudança de regime fosse bem-sucedida, a ausência de instituições implica que a reconstrução exigiria décadas de controle externo sustentado.
O tabu da soberania e a reação regional
O DNA diplomático da América Latina está impregnado do princípio da não intervenção. Não se trata de um ideal abstrato, mas reflete uma memória histórica coletiva das ocupações estadunidenses, desde as intervenções caribenhas no início do século XX até as operações secretas durante a Guerra Fria. A Organização dos Estados Americanos (OEA) tem se recusado repetidamente a apoiar mudanças de regime promovidas pelo exterior, a fim de evitar que, no futuro, isso possa justificar interferências em outros lugares.
Mesmo que Washington procurasse projetar uma fachada de liderança regional, a realidade é clara: nenhum Estado latino-americano possui a profundidade logística nem a experiência estratégica necessárias para liderar uma missão dessa magnitude. Os Estados Unidos manteriam o controle operacional e arcariam com a responsabilidade pelo inevitável atoleiro.
O paralelo com Putin e a contradição de Trump
Aqui, a hipocrisia é flagrante. Washington condenou a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin em 2022 como uma violação da soberania, mas agora reproduz a mesma lógica. Os paralelos retóricos são assustadores: Trump apresenta a Venezuela como uma ameaça existencial “narcoterrorista”, uma linguagem inquietantemente semelhante ao discurso de Putin em 2022, que classificou a Ucrânia como uma entidade artificial e um perigo para a segurança russa. Ambas as narrativas revestem o poder bruto e o neoimperialismo com o manto da necessidade.
A ironia se aprofunda com o recente encontro entre Trump e Putin no Alasca. Longe de expressar uma postura de firmeza diante do revanchismo autoritário, a cúpula projetou um sinal de acomodação em relação a Moscou no âmbito internacional, mesmo enquanto Washington recorre à agressão em seu próprio hemisfério. Assim como o flerte de Trump com Putin em seu primeiro mandato, juntamente com os ataques à OTAN e o atraso na ajuda militar, enfraqueceu a Ucrânia, hoje ele corre o risco de impor uma paz ditada pelo Kremlin e intervir violentamente na Venezuela (e, possivelmente, como insinuou de forma ameaçadora nos últimos meses, no Panamá).
O grande desmantelamento
Mas esse ataque beligerante exemplifica o desmantelamento sistemático, por parte de Trump, do internacionalismo liberal. Ao longo de dois mandatos, as associações multilaterais foram destruídas, os escritórios de direitos humanos fechados e governar tornou-se uma ferramenta contundente de coerção. A diplomacia cedeu diante dos acordos e tarifas; a persuasão, diante da coerção aberta.
O que emerge é um mundo desvinculado das âncoras normativas da ordem pós-1945, um mundo onde a soberania é negociável, a lei é maleável e a força é a razão. Nesse sentido, a Venezuela pode se erguer hoje como a lápide dessa velha ordem: uma era em que os Estados Unidos, outrora seu principal arquiteto, abraçam o ethos do revisionismo ao qual antes diziam se opor. O futuro não é anarquia, mas hierarquia: um sistema de esferas de influência governado pela força bruta, negociações transacionais e ideais cada vez mais distantes de direitos humanos e segurança coletiva. A arte da negociação? Não: uma era de impunidade.