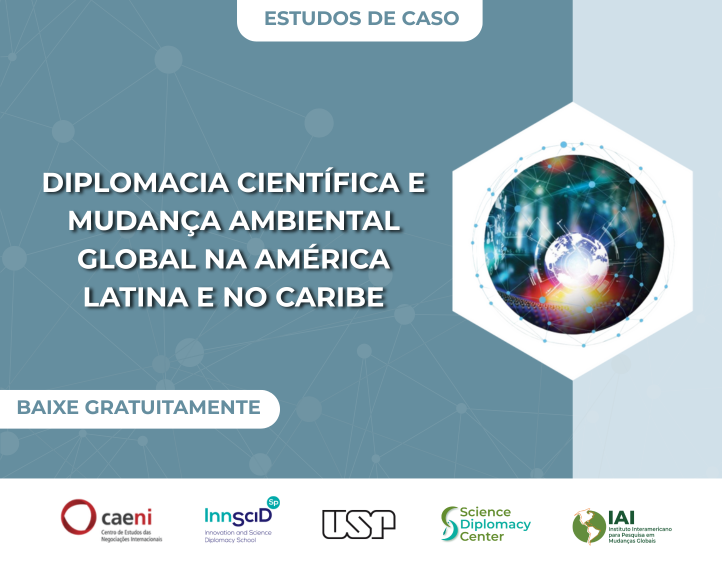No final de junho de 1965, o jornal El Día do México publicou um artigo do sociólogo e antropólogo Rodolfo Stavenhagen que marcaria época. Intitulava-se “As sete teses equivocadas sobre a América Latina”. Naquele momento, o mestre radicado no México não apenas explicou com clareza os termos da dependência estrutural da região, como também alertou para o caráter ilusório das concepções desenvolvimentistas então em voga. Sessenta anos depois, e no calor das convulsões globais, seria necessário ver se aqueles termos da dependência estrutural foram modificados e, em tal caso, quais seriam as novas fantasias progressistas que a estariam realimentando.
O progressismo na década de sessenta
Quando veio a público o inflamado pleito de Stavenhagen, os debates sobre os problemas regionais estavam influenciados por duas correntes argumentativas aparentemente antitéticas. A partir das usinas imperiais, havia se consolidado a imagem de uma “década do desenvolvimento” sob o emblema visível da Aliança para o Progresso (1961) e o respaldo de autores como W.W. Rostow, que também previa para a região uma promissora decolagem. Em contrapartida, a posição crítica buscava desautorizar a ideologia dominante, caracterizando o cenário regional por uma polarização ou dualidade. Nessa ótica, a exploração tanto extensiva quanto intensiva dos recursos primários estaria sustentada por um regime de dominação tradicional ou quase feudal sobre suas populações e territórios rurais. Como contraponto, nas grandes cidades pareciam prevalecer práticas capitalistas que alimentavam expectativas de um desenvolvimento progressivo.
Questionamento estruturalista
Stavenhagen rejeitou essa suposição sobre “sociedades duais”, afirmando que o atraso não devia ser considerado uma dimensão independente, mas sim que, seguindo as imposições internacionais, “o progresso das zonas modernas, urbanas e industrializadas da América Latina tem ocorrido às custas das áreas atrasadas, arcaicas e tradicionais”. Em sua conceituação, as supostas “sociedades duais” expressavam, na verdade, um “colonialismo interno”, replicando no interior das periferias o sistema econômico internacional dominante. Assim, tornavam-se inverossímeis algumas hipóteses derivadas daquela pretensa dualidade: atribuir as possibilidades de desenvolvimento à atuação de estratos sociais médios, progressistas e empreendedores; ou caracterizar as integrações nacionais na América Latina como o produto histórico da mestiçagem que implicaria, em última instância, a negação das raízes indígenas; ou ainda associar as iniciativas progressistas a possíveis alianças entre trabalhadores urbanos e camponeses.
As convulsões do século XXI: semelhante e diferente
Na atual fase da economia internacional, os processos de acumulação e reprodução do capital continuam vinculados à exploração intensiva e extensiva de recursos primários nas periferias, incluindo a região latino-americana. No entanto, notam-se diferenças marcantes em relação àqueles regimes coloniais e neocoloniais de espoliação e manipulação de mercados que Rodolfo Stavenhagen denunciou com tanta lucidez.
A imagem mais impactante do neocolonialismo no século XXI é a que apresenta um espelho invertido: o halo “progressista” já não define os grandes centros urbanos e periurbanos. Pelo contrário, as cidades latino-americanas são focos ameaçadores de pobreza, insegurança e narcotráfico. E as sedutoras telas dos celulares “inteligentes” operam como fontes de alienação coletiva, contribuindo para o empobrecimento cognitivo daqueles que percorrem as ruas enfrentando o cotidiano com seus dispositivos na mão.
Ressurreição do mito de El Dorado
Paralelamente, inverteu-se a imagem de atraso e arcaísmo atribuída às populações e territórios rurais, outrora desprezados pelas ideologias modernistas. Hoje, o acúmulo de minerais críticos desponta como uma renovada fonte de prosperidade justamente nas zonas deprimidas do Peru, Bolívia, Chile e Argentina, que haviam sido devastadas pela conquista e colonização espanhola. Como explicar isso?
Uma fantasia coletiva impregna inúmeras mensagens, memes e slogans que, com o aval de supostos “especialistas”, se difundem hipnoticamente pelas telas. As maravilhas atribuídas às tecnologias da informação e comunicação (TIC) exigem uma capacidade de pensar “diferente” que, como lembra Patrick McGee, havia sido inicialmente reconhecida nos rebeldes empreendedores da Apple (“Apple in China”) e cujo glamour se estendeu aos arautos das corporações dominantes dos mercados eletrônicos (big tech). Essas qualidades mágicas de transmutação são atribuídas a diversos elementos extraídos de minerais críticos, que estariam transformando aceleradamente as condições de vida da humanidade. Desde dispositivos médicos até aplicações que impulsionam e convertem fontes energéticas… mas também as sofisticadas inovações introduzidas nas indústrias bélicas para produzir armamentos cada vez mais letais.
Curiosamente, as populações latino-americanas agitadas por tais fantasias futuristas ignoram o contraste entre essas aplicações de tecnologia avançada e os rudimentares — e devastadores — métodos extrativos de suas matérias-primas, que têm sido testados até mesmo nos próprios territórios das potências imperiais. Nesse sentido, uma matéria recente do New York Times, publicada em 10 de junho “China’s Upper Hand: Rare Earth Metals”, descreve os processos de degradação e contaminação ambiental desencadeados pela primitiva exploração de terras raras essenciais, desde os anos 1990 em Mountain Pass, na Califórnia, e mais tarde em zonas empobrecidas do centro e sul da China — em ambos os casos, muito distantes do fascínio que despertam os empreendimentos tecnológicos disruptivos que vemos nas telas.
Novos termos da integração econômica com os centros imperiais: enclaves e cadeias de suprimento para a exploração de recursos críticos
Desde o governo de Joe Biden, sugeriu-se uma nova arquitetura de integração econômica desenhada para garantir o fornecimento de minerais altamente demandados pelas TIC. A iniciativa mais divulgada, desde novembro de 2023, recebeu o pomposo nome de “Aliança para a Prosperidade Econômica das Américas” (APEP). Mas, após um breve percurso institucional — tanto a partir do segundo governo de Donald Trump quanto por meio de propostas de investimento de empresas de diferentes origens, incluindo chinesas e europeias —, já não parece necessário o aparato normativo específico. As previsões sobre compras públicas nos tratados de livre comércio de última geração (TLCs), os acordos de promoção e proteção de investimentos, e os diálogos bilaterais “de alto nível” parecem suficientes para que distintos governos latino-americanos se vejam compelidos a firmar compromissos público-privados de localização e exploração de seus recursos primários.
Desse modo vão se configurando enclaves geridos por corporações transnacionais cujas engenharias financeiras dificultam a identificação nos casos de denúncias de contaminação e degradação ambiental. Os enclaves passam a constituir o elo inicial de uma cadeia de suprimentos orientada aos centros extrarregionais de refino dos minerais extraídos. Fora dessas demarcações, as populações e os territórios onde se desenvolvem outras atividades produtivas tornam-se secundários, prevendo-se a prolongação indefinida de seu estancamento. E, enquanto isso, aqueles enclaves e circuitos logísticos ficam subordinados a um período incerto de exploração — até a próxima disrupção tecnológica que demande a substituição dessas matérias-primas por outras.
Estará de volta, mais uma vez, aquele ciclo fatal de auge e declínio que o mestre Stavenhagen havia exposto com tanta lucidez?
*Tradução automática revisada por Janaína da Silva