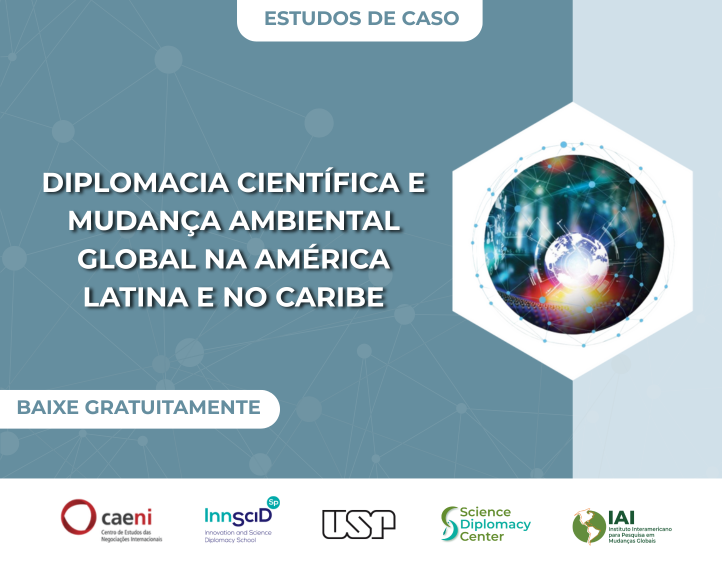Sob o governo de Javier Milei, as universidades argentinas sofreram um corte de quase 30% em seu orçamento e os salários dos docentes caíram mais de 20%. No México, os cortes nas universidades em 2025 estão chegando a mais de 32%, os mais altos dos últimos dez anos. Paralelamente, uma deputada do Morena, o partido no governo, propôs uma iniciativa de lei para que as universidades deste país não exijam a tese como requisito para obter o diploma. Na Colômbia, o ex-vice-ministro da Criatividade enfrenta acusações de falsificação de um título de mestrado para chegar ao cargo, lembrando muitos casos similares, mas impunes, como o de uma ministra da SCJN no México que plagiou sua tese. O que esses casos têm em comum? Que são produto das crises que todas as universidades enfrentam atualmente. Em outras circunstâncias, os cortes nas universidades seriam impensáveis e altamente questionáveis, a classe política e as próprias universidades teriam condenado a fraude para obter um diploma e ninguém questionaria o valor de uma tese. Hoje, é muito provável que muita gente seja a favor dessas práticas, que as minimizem ou que as justifiquem diretamente.
Os ataques externos
Desde o início do século XX, as universidades da América Latina financiadas pelo Estado foram obrigadas a cooperar com as políticas de desenvolvimento; a lógica era que, com mais graduados, um país poderia acelerar suas capacidades de desenvolvimento em todas as áreas. No início, foi o que ocorreu, mas as universidades foram vítimas de seu próprio êxito e, na segunda metade do século, se massificaram. Ao se submeterem a essa dinâmica, cederam parte de sua autonomia, e os Estados se viram comprometidos a aumentar a cada ano seus orçamentos para sustentar essa lógica que, pouco a pouco, foi corroendo seus objetivos científicos, humanísticos e de divulgação. Mas o neoliberalismo que impera na região desde os anos 80, e com maior intensidade no século XXI, não as despojou dessa carga, mas as condicionou. Elas não respondem mais às necessidades de desenvolvimento de uma sociedade guiada pelo Estado, mas às demandas do mercado. As universidades deixaram de ser um investimento de longo prazo para se tornarem um fardo governamental, pois o que menos importa é a educação de qualidade e o desenvolvimento da ciência.
Hoje, as universidades são obrigadas a justificar a pertinência de seus cursos e diplomas não em função do desenvolvimento do conhecimento universal, mas das demandas do mercado de trabalho. Assim, as universidades são tratadas como centros de capacitação e emissão de diplomas. As exigências acadêmicas diminuíram, os cursos não devem durar muitos anos, quanto mais curtos, melhor. A tese perdeu seu valor como critério de mérito para um diploma: “Quem vai ler?”. A obtenção de diplomas foi flexibilizada com exames padronizados de graduação, símbolo da mediocridade, projetados para facilitar, não para exigir. Ao reduzir os tempos e os requisitos de graduação, os graduados estão mais prontos para serem explorados ou, pior ainda, para não serem explorados, porque está se formando um exército de subespecialistas que ostentam um diploma que foi despojado de seu valor: o esforço intelectual. Não é raro que muitas pessoas, especialmente no âmbito político, se dediquem a colecionar diplomas universitários sem adquirir conhecimento, daí a tolerância ao plágio ou a minimização de práticas fraudulentas. Mesmo as grandes universidades privadas que inicialmente resistiram aos ataques do Estado onipotente também cederam à lógica do mercado e hoje competem no mercado dos diplomas mais fáceis de obter.
A asfixia interna
As universidades não são “torres de marfim”, um mito que se repete; a realidade é diametralmente oposta. Devido às pressões externas e às exigências do mercado, o corpo docente, antes a espinha dorsal do ensino superior, foi substituído pelo corpo discente. Mas ambos foram reduzidos a meros agentes econômicos do sistema: agora uns são “facilitadores” e os outros, meros clientes a quem se deve oferecer educação à la carte e à medida de suas possibilidades. A busca pelo mérito foi confundida com privilégio e substituída pelo politicamente correto, e a exigência pela condescendência. Apesar disso, as diferentes e constantes gerações de estudantes continuam revitalizando a universidade ao propor novos desafios e introduzir agendas originais; sua natural rejeição ao status quo gera movimentos que impactam a esfera pública porque são o reflexo das preocupações das sociedades, mas, ao se submeterem à dinâmica do mercado, essa vivacidade está se apagando.
Atualmente, o prestígio universitário já não se constrói com a geração de conhecimento nem com a qualidade da sua transmissão, mas com os indicadores para o mercado. Essa dinâmica tem forçado as universidades a explorar seus docentes, transformando-os em instrumentos desse sistema. Eles são obrigados a dedicar mais tempo a tarefas burocráticas do que à formação; cumprem suas horas de ensino, mas não oferecem mais insights ou palestras. A “vida acadêmica” é consumida pela preparação para avaliações contínuas e pelo preenchimento de formulários duplicados e triplicados, porque cada agência que apoia o sistema exige isso de forma diferente; a pesquisa científica ocupa apenas um tempo marginal.
A redução de recursos para pesquisa, a precariedade salarial, aposentadorias escassas e o número exíguo de vagas para absorver novas gerações (um problema de dimensões colossais por si só), somados ao fato de as próprias universidades serem grandes organizações, geram uma dinâmica política interna raramente visível: as lutas por poder dentro delas são acirradas. Grupos influentes, muitas vezes com credenciais acadêmicas precárias, monopolizam cargos e distribuem os poucos recursos entre seus associados. O nepotismo é fomentado e a lógica da servidão prevalece. Esse problema se agrava quando esses grupos têm vínculos com partidos políticos. Para muitos “acadêmicos”, a carreira universitária burocrática é sua única razão de ser; na maioria das vezes, verdadeiros acadêmicos acabam sob o jugo de uma liderança medíocre. E, com a dinâmica do mercado, as universidades também se encheram de pessoas que se passam por “professores” sem vocação para o ensino, que veem a academia como um passatempo prestigioso.
Qual é o futuro da universidade?
Em um mundo onde vários bilionários abandonaram a faculdade para criar novas empresas de tecnologia, ou na América Latina, onde a música popular exalta o dinheiro fácil oferecido por atividades ilícitas, pode-se acreditar que as universidades estão em declínio. O objetivo das universidades não é criar riqueza, mas preservar e transmitir conhecimento à humanidade. Seu papel é expandir as capacidades intelectuais das pessoas, não apenas formar quadros para o mercado de trabalho, e se os diplomas universitários fossem inúteis, ninguém tentaria cometer fraude para obtê-los. Somente nas universidades podemos estudar e pesquisar livremente, analisar problemas e guiar a transformação do mundo. Seus valores e importância são intangíveis e, justamente por isso, devem ser preservados para que possam continuar cumprindo suas funções e se transformando sem perder sua essência.
Tradução automática revisada por Isabel Lima