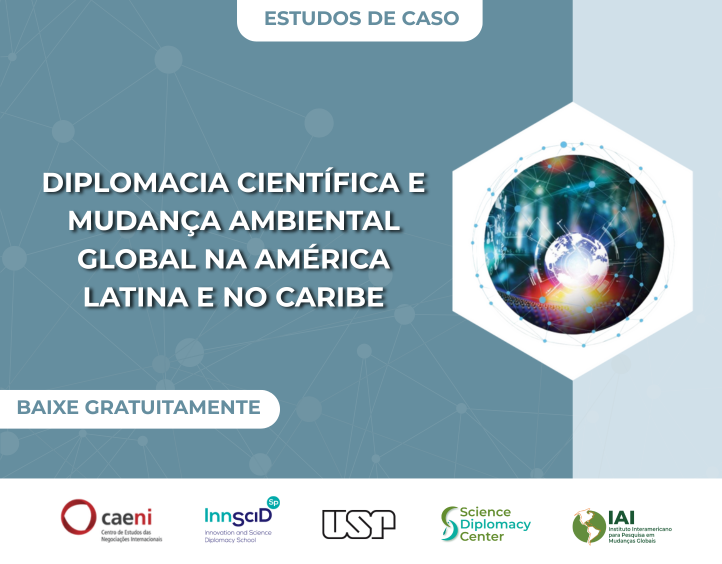A Greve dos Inquilinos de 1925 foi a primeira grande crise social do século XX no Panamá. Essa greve teve origem na superlotação, na precariedade e na falta de alternativas de moradia que milhares de ex-trabalhadores do Canal sofriam nas cidades terminais da Rota Transístmica. A essa situação volátil somou-se o aumento desmedido dos aluguéis por parte dos proprietários. O abalo causado por essa crise foi tão grande que levou o governo a solicitar a intervenção militar das tropas americanas acantonadas na antiga Zona do Canal, a fim de conter a revolta.
O aumento dos aluguéis foi consequência da crise econômica e fiscal que o Panamá vivia devido ao término da construção do Canal e à má gestão das finanças públicas por parte dos governos que o país teve durante seu primeiro quarto de século de existência. A essa crise local somou-se o impacto econômico global da Grande Depressão do início da década de 1930. Devido às pressões inflacionárias e à situação de abuso por parte dos proprietários, as tensões sobre este tema mantiveram-se entre 1925 e 1932. Estas tensões refletiram-se numa série de ações, como protestos nas ruas, greves de não pagamento e até mesmo uma ocupação de terras.
O bairro de Boca La Caja — como ficou conhecida essa primeira ocupação de terras em 1932 — surgiu da ocupação realizada por 72 famílias de pescadores na orla costeira próxima à servidão do que seria o aeroporto de Paitilla. Construído em 1934, este seria o primeiro aeroporto da cidade do Panamá fora da Zona do Canal, segundo o que descreve o arquiteto Álvaro Uribe no livro Ciudad fragmentada (1989).
O surgimento precoce de assentamentos informais durante o século XX não foi uma situação exclusiva do Panamá. Este bairro foi precedido pela ocupação por soldados desmobilizados do Morro da Providencia, no Rio de Janeiro, em 1897, o assentamento informal mais antigo da região. Outras ocupações similares se seguiram, marcando uma primeira expansão urbana na América Latina. A Favela da Rocinha, também no Rio de Janeiro (final dos anos 1920), Villa 31 em Buenos Aires (1932), Las Yaguas em Havana (década de 1930) e Boca La Caja na cidade do Panamá foram os primeiros assentamentos dessa onda inicial.
Esses assentamentos pioneiros seriam o precedente da explosiva ocupação de terras que caracterizou o crescimento urbano das cidades latino-americanas entre a década de 1940 e o final do século XX. Bairro Petare em Caracas (1940), Cidade Nezahualcóyotl no México (1950), Villa 21-24 em Buenos Aires (1950), Cidade Bolívar, Bogotá (1950), Victoria em Santiago do Chile (1957), Cantegril em Montevidéu (1954), La Limonada na Guatemala (1958) e La Ciénaga em Santo Domingo (1958) compõem a segunda onda de um fenômeno que se estenderia com força até o final da década de 1990.
Essas duas primeiras ondas de assentamentos informais marcam a expansão da habitação autoconstruída como forma de construir cidades na América Latina, tanto em seus aspectos narrativos quanto sociais e físicos. Os assentamentos informais deram origem a uma gíria muito latino-americana que estigmatiza sua condição de pobreza e precariedade. Termos como favelas no Brasil, villas miseria na Argentina, barriadas de emergencia ou barriadas brujas no Panamá, cantegril no Uruguai, callampas no Chile ou tugurios na Costa Rica fazem parte dos americanismos que dão nome a esse fenômeno.
Em conjunto, todos esses casos refletem um padrão comum: crises profundas (bélicas ou econômicas) expulsaram populações vulneráveis — soldados desmobilizados, migrantes rurais e imigrantes estrangeiros pobres, ou trabalhadores desempregados — para as periferias urbanas, em números crescentes, até constituírem uma parte considerável na formação das cidades latino-americanas.
Fisicamente, os assentamentos informais localizaram-se em zonas periféricas e marginais das cidades. Colinas, áreas pantanosas, zonas industriais próximas a portos ou ferrovias e até mesmo lixões, entre outros espaços, que permitiam residir perto dos centros de emprego, mas em terrenos pouco atraentes para o desenvolvimento urbano formal.
Em geral, desses primeiros assentamentos, poucos foram totalmente eliminados. Alguns governos optaram pela erradicação e realocação — como Cuba com Las Yaguas em 1960. Mais frequente tem sido a regularização progressiva: fornecimento de serviços, reconhecimento legal da terra e, em alguns casos, certo grau de integração urbana. Por exemplo, em Villa 31, em Buenos Aires, foram construídos espaços públicos que buscam uma maior integração com a cidade.
Voltando a Boca La Caja, no Panamá, esse bairro continua sendo, atualmente, uma comunidade de pescadores e pessoas da classe trabalhadora. Situado na orla costeira — e cercado por arranha-céus e shopping centers construídos ao longo do século XXI —, tornou-se um espaço cobiçado pelo desenvolvimento imobiliário da cidade. Nesse contexto, surgiu uma recente proposta por parte das autoridades de planejamento urbano da cidade para atribuir, pela primeira vez em sua história, códigos de zoneamento a este bairro.
Esta proposta gerou mal-estar na comunidade. A origem do descontentamento é que a proposta atribui um uso do solo para habitações individuais ao conjunto de lotes que compõem este bairro. Os moradores de Boca La Caja exigem que lhes seja atribuído um uso de alta intensidade, que permita a construção de edifícios de até 20 andares, uma vez que estes têm um valor de mercado superior ao das habitações individuais. Uma estratégia que parece destinada a obter melhores preços de venda das suas propriedades, caso sejam forçados a abandonar a sua comunidade.
Boca La Caja exemplifica o desafio da cidade latino-americana, na qual já não é viável manter os assentamentos informais no limbo entre o esquecimento institucional e a ameaça constante de despejo. A cidade latino-americana precisa gerar modelos inovadores para reduzir a expulsão da população para a periferia. A informalidade na habitação e no habitat é uma condição estrutural que afeta outros aspectos econômicos e sociais da cidade, como o trabalho informal, o desemprego, a criminalidade, o mal-estar social, a salubridade e o bem-estar em geral, pelo que é urgente atendê-la se não quisermos precipitar o colapso urbano.
Em 1996, o relatório da Comissão Latino-Americana e do Caribe sobre assentamentos humanos apontava: “A pobreza urbana pode muito bem constituir o problema político e econômico mais explosivo da região no próximo século. Entre 1970 e 1990, a porcentagem da população urbana em estado de pobreza absoluta subiu de 29% para 39%”. Trinta e cinco anos depois, esses números só se agravaram. Segundo o PNUD, em 2022, “72% das pessoas que vivem em áreas urbanas são pobres”.
Os mais de 120 milhões de habitantes da região que ainda vivem na precariedade desses assentamentos são um claro indicador do pouco que foi feito nos últimos 100 anos para responder a um dos problemas fundamentais das cidades latino-americanas: proporcionar qualidade de vida, oportunidades e dignidade aos seus habitantes.
Tradução automática revisada por Isabel Lima