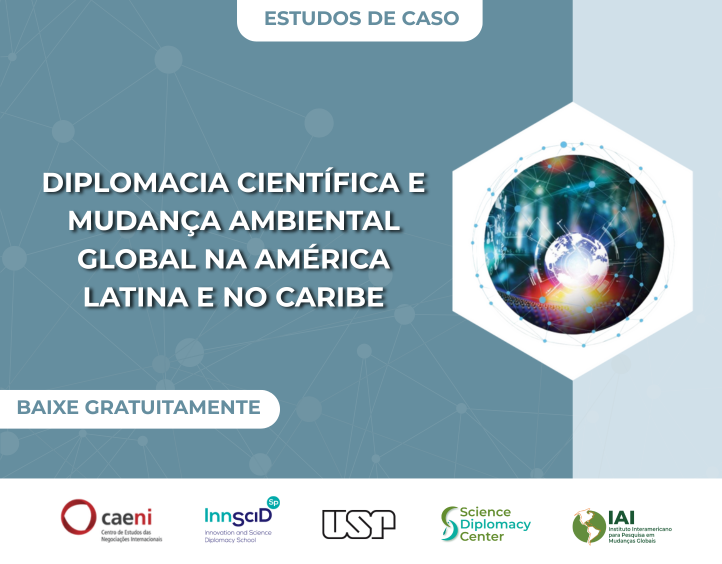As tensões entre Estados Unidos e Venezuela não são uma novidade. Desde a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999, Caracas iniciou um processo de distanciamento entre os países, que se consolidou após o falho golpe de Estado do ano de 2002. Naquele momento, o governo venezuelano acusou os Estados Unidos de ter apoiado o motim, e Washington foi um dos poucos países que reconheceu brevemente o empresário Pedro Carmona como chefe de Estado.
Uma constante deterioração das relações
Dali em diante, a relação bilateral têm se deteriorado de maneira constante. Nos últimos 25 anos, houve expulsões de embaixadores, fechamento de sedes diplomáticas e uma retórica cada vez mais hostil. Essa deterioração contribui tanto para o histórico intervencionista dos Estados Unidos na América Latina quanto para a importância que o anti-imperialismo tem na identidade da esquerda regional, da qual o movimento chavista faz parte.
Ou seja, a rejeição a Washington não é só uma reação histórica, mas também funciona como elemento mobilizador para projetos políticos aos quais é útil criar um inimigo externo para ser responsabilizado pelos seus problemas e unificar a sua base política.
Nesse contexto, durante as últimas duas décadas e meia, os avisos sobre uma iminente intervenção estadunidense na Venezuela se tornaram recorrentes. Como na fábula de Pedro e o lobo, a repetição gerou ceticismo na população: muitos duvidam que o “lobo” chegará. Mas nessa semana, uma publicação do New York Times sobre a autorização do presidente Donald Trump à CIA para atuar em território venezuelano voltou a soar os alarmes na região.
Há poucos meses, alguns jornalistas acreditavam que um período de distensão estava se instalando na relação bilateral (marcada pelo alívio parcial das sanções de petróleo e da repatriação de migrantes venezuelanos), mas por mais imprevisíveis que sejam as decisões de Trump, a situação escalou perigosamente. A Casa Branca endureceu seu discurso, acusou o regime de Nicolás Maduro de narcotráfico e bombardeou embarcações de supostos traficantes venezuelanos.
Pode haver uma intervenção militar real?
Não é claro. Além da retórica, é difícil identificar um benefício político para Trump em uma operação desse tipo: tanto a opinião pública estadunidense quanto alguns de seus aliados estão relutantes a novas guerras e a gastos no exterior. De fato, o vazamento ao New York Times poderia ser uma manobra calculada para aumentar a pressão psicológica sobre a coalizão de Maduro, similar à famosa nota de John Bolton em 2019 (“5,000 troops to Colombia”) durante o ciclo de tensões anterior.
Uma ação armada estadunidense teria consequências profundas: provocaria uma rejeição regional e violaria o direito internacional. Mas também levanta uma pergunta incômoda: como a região poderia condenar uma intervenção estrangeira e continuar sendo passiva diante do colapso democrático na Venezuela?
Sobram evidências sobre a ruptura da ordem constitucional venezuelana. As violações aos direitos humanos (que incluem o desaparecimento, as torturas e a violência sexual) foram extensamente documentadas por uma ONG de trajetória conhecida e pela própria ONU. Ademais, a Venezuela é o primeiro país da região com uma investigação aberta por delitos de lesa humanidade na Corte Penal Internacional.
Se os Estados Unidos executassem uma ação armada unilateral, os representantes regionais elevariam a voz legitimamente pelas pressões que essa ações poderiam causar em suas fronteiras. No entanto, muitos desses atores têm sido muito menos vigorosos para criticar a política econômica depredadora que Maduro instalou para se manter no poder e que causou a extensa migração de venezuelanos que continua até hoje.
Muitos líderes criticarão com razão a violação da soberania dos países. Mas pouco disseram sobre ações violadoras da soberania cometidas pelo governo venezuelano, como o assassinato do Tenente Ojeda no Chile ou o sequestro de opositores no território colombiano. Há poucos dias, dois ativistas venezuelanos exilados em Bogotá foram baleados. Esses feitos apenas tiveram repercussões midiáticas e o próprio presidente da Colômbia foi mais discreto diante disso do que diante outros assuntos de caráter internacional.
O paradoxo é evidente: a América Latina rejeita a ingerência, mas raramente atua diante os autoritarismos que nascem dentro de suas próprias fronteiras e contra os que se comprometeram em atuar em documentos como a Carta Democrática da OEA, onde se “reconhece que a democracia representativa é indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região”.
A melhor via para evitar a violência interna e externa sobre a região é retomar uma agenda forte e efetiva em defesa da democracia. Parafraseando uma frase célebre do ex-presidente venezuelano, Rafael Caldera: “é difícil pedir a um povo que se imole pela soberania quando sente que essa soberania não lhe dá de comer nem lhe garante o respeito a sua vida”.
Tradução automática revisada por Isabel Lima