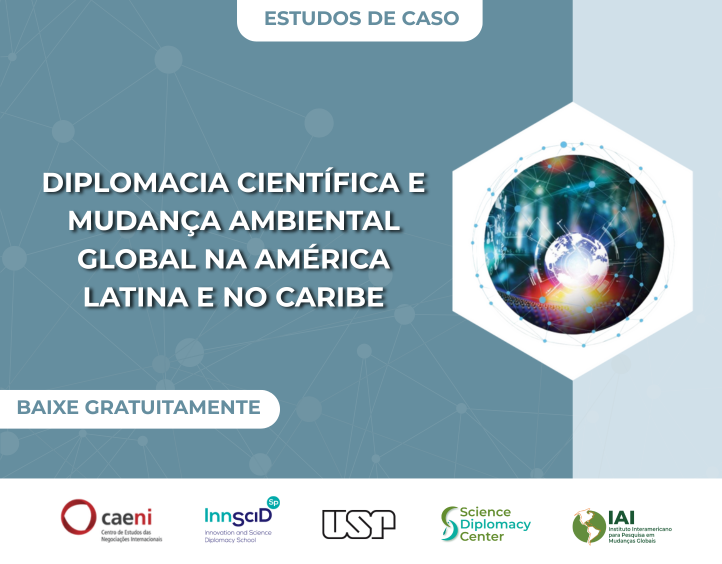A disrupção trumpista instaurada desde 20 de janeiro trouxe consigo o enfraquecimento da ordem internacional estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, e além de sua complexa história colonial e estruturas institucionais herdadas, o momento atual exige uma ação coordenada, ousada e sustentada da região do Grande Caribe para se consolidar como um ator geoestratégico relevante em nível global.
A ordem que emergiu nos anos seguintes a 1945 deu origem ao florescimento de um número importante de novos Estados, fruto do processo generalizado de descolonização. No caso das Américas, o número de Estados integrados à comunidade internacional quase dobrou, muitos deles com costas no mar do Caribe e com uma herança colonial de potências como França, Grã-Bretanha e Holanda.
O legado colonial diversificado opôs os países anteriormente moldados sob influência principalmente espanhola aos novos Estados. Essa situação deu lugar a um caldeirão cultural de enorme riqueza que, no entanto, contrastava a peculiaridade continental e insular. Isso se somava a contrastes institucionais derivados dos modelos políticos herdados, já que as ex-colônias britânicas adotaram sistemas parlamentares, com efeitos diferentes na distribuição de poder e na capacidade de responder a crises políticas.
Outro fator relevante no âmbito internacional é a consideração histórica dos Estados Unidos sobre o Caribe como um mar interior, uma visão que se consolidou em meados do século XIX, quando se tornou uma via estratégica entre as costas atlântica e pacífica durante a expansão territorial estadunidense. Essa lógica geopolítica foi reafirmada com a construção do Canal do Panamá no início do século XX e deu lugar a múltiplas intervenções na região. A reação mais contundente a essa presença foi a revolução cubana de 1959, embora nas décadas seguintes a região viveu episódios de alta tensão com as intervenções militares estadunidenses na República Dominicana (1965), em Granada (1983) e no Panamá (1989). Nesse contexto, e com a ideia dos países e territórios caribenhos de promover a integração política, econômica e social, a Comunidade do Caribe (CARICOM) foi criada em 1973 com 15 Estados-membros e 5 associados, todos eles insulares.
O interesse estratégico dos Estados Unidos na região foi diluído com a chegada do século XXI e a entrega do Canal do Panamá às autoridades panamenhas, o que coincidiu com a irrupção do projeto chavista na América Latina. No Caribe, isso se traduziu na influência da PDVSA através do PetroCaribe, lançado em 2005 como parte da iniciativa da ALBA, que aproximou quinze dos estados caribenhos do socialismo do século XXI até o encerramento de suas atividades em 2019.
A morte de Hugo Chávez e, sobretudo, a queda nos preços do petróleo mudaram o panorama regional, abrindo espaço para uma maior cooperação entre os estados caribenhos. Esse novo contexto se consolidou em torno de dois desafios essenciais: a crescente conscientização sobre os riscos do aquecimento global e a atração do mercado de trabalho estadunidense por uma população disposta a emigrar, devido ao limitado desenvolvimento econômico dos Estados e das regiões banhadas pelo Mar do Caribe, dependentes majoritariamente do setor de turismo.
No início de 2023, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou o Conselho de Segurança que o aumento do nível do mar ameaçava “um êxodo em massa de proporções bíblicas”, uma realidade que já está começando a se manifestar no arquipélago panamenho de San Blas. As projeções de mudanças climáticas antecipam cenários críticos no curto prazo. Ao mesmo tempo, a renomeação imperial de Golfo do México para Golfo da América por Trump, revalida a vocação hegemônica dos Estados Unidos sobre a região e revitaliza o destino manifesto de mais de um século atrás.
Ambos os aspectos representam desafios evidentes para a Associação dos Estados do Caribe, cujo desenvolvimento ao longo de suas três décadas de existência definhou em meio às vicissitudes descritas acima, em linha com as escassas conquistas de outros processos de integração regional no continente. Os 25 Estados-membros e os 10 associados reafirmam seu compromisso com a soberania, o multilateralismo e a unidade na diversidade, em um momento especialmente crítico. Sua próxima cúpula em Cartagena, em um momento em que o paroxismo da (des)ordem internacional segue atingindo níveis inéditos, não deve ser mais uma reunião concluída com declarações retóricas desprovidas de compromissos reais.
Na agenda política imediata, os Estados do Caribe enfrentam três desafios que, na minha opinião, devem ser abordados. O primeiro refere-se à consolidação de seu processo de institucionalização como uma associação com uma estrutura de governança permanente e sólida, com mecanismos ágeis de tomada de decisão e um modelo representativo equilibrado de Estados-membros, levando em conta, mediante uma ponderação adequada, o tamanho de cada país. O segundo desafio tem a ver com o confronto desigual imposto pela atual relação com os Estados Unidos e sua intenção de restaurar o “destino manifesto” na região; um exemplo disso é a situação que envolve a mudança de nome do Golfo do México. Por fim, a aposta inequívoca pelo multilateralismo deve se traduzir na mobilização de ações conjuntas para enfrentar os desafios mais urgentes que o Grande Caribe enfrenta: melhorar a mitigação do risco de desastres, avançar para uma economia azul sustentável, enfrentar de forma decisiva as mudanças climáticas, fortalecer as soluções de conectividade de transporte e comércio, e consolidar um turismo verdadeiramente sustentável e inclusivo. O multilateralismo, mais do que um princípio, deve ser uma ferramenta ativa para a transformação da região.
O passado heterogêneo, o avanço do credo democrático na maioria de seus Estados-membros e a ausência de uma liderança clara — fator que, por sua vez, facilita o diálogo horizontal e pode simplificar o processo de tomada de decisões — constituem, sem dúvida, um estímulo para impulsionar essas linhas de cooperação que exigem decisões urgentes e enérgicas.
Tradução automática revisada por Isabel Lima