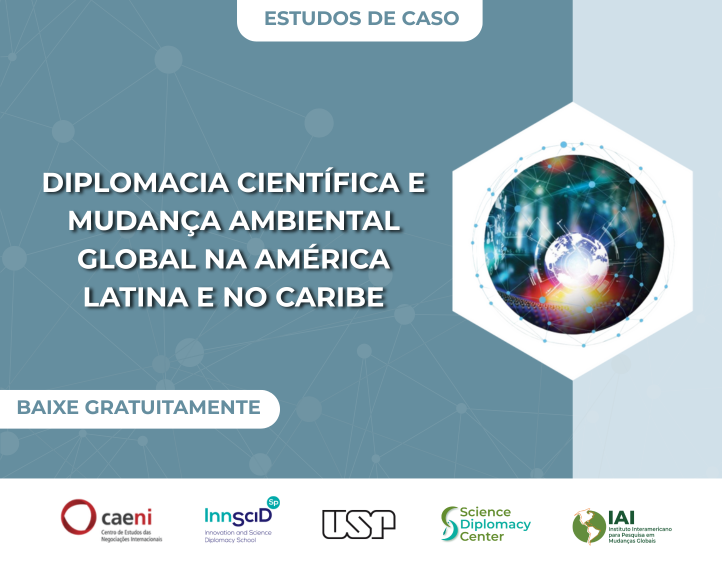O atual cenário de pós-democracia em que o mundo está imerso registra o enfraquecimento global da qualidade média da democracia em regimes consolidados, atingindo níveis preocupantes de deterioração e o aumento das autocracias. Entre uma série de aspectos muito diferentes entre si, há dois que chamam a atenção e, ao mesmo tempo, suscitam perplexidade. Eles têm a ver com o peso da demografia e com a complexidade das questões que enquadram a ação política. São elementos com um componente de clara retroalimentação que estão em discussão há muito tempo e que, no entanto, parecem não receber a devida atenção.
Em 1960, três bilhões de habitantes povoavam a Terra, um número que, 65 anos depois, se multiplicou por 2,7, ultrapassando os atuais oito bilhões, dos quais 55% vivem em cidades. Se considerarmos os três países latino-americanos mais populosos, sua evolução foi ainda mais dramática. De fato, a população do Brasil passou de 72,2 milhões para 212 milhões (3 vezes), o México saltou de 38,2 milhões para 131 milhões (3,4 vezes) e a Colômbia cresceu de 16,5 milhões para 52,9 milhões (3,2 vezes). Na faixa dos países menos populosos, a evolução também foi muito significativa. A Costa Rica passou de 1,3 milhão para 5,1 milhões (3,9 vezes), o Panamá progrediu de 1,1 milhão para 4,5 milhões (4 vezes) e o Uruguai passou de 2,5 milhões para 3,4 milhões (1,4 vezes), sendo o país da região com menor dinamismo demográfico, de longe.
Hoje é de conhecimento geral que vivemos na era do antropoceno, algo suscitado pelo impacto significativo da ação humana no planeta. No entanto, ao longo do período de dois terços de um século, as mudanças institucionais realizadas para enfrentar o crescimento demográfico e adequá-lo a uma certa realidade instrumental estão longe de ter evoluído a um ritmo similar, com implicações evidentes na agenda pública.
Por exemplo, a representação política mal mudou seus padrões, assim como os processos de descentralização, que nem sempre acompanharam a evolução social e cultural ocorrida, nem se adequaram às tensões ambientais suscitadas, à luta pela paridade ou ao respeito pela diversidade. Por outro lado, algo semelhante surge no desenvolvimento de políticas públicas no que diz respeito ao seu desenho e implementação com a participação das pessoas afetadas. Isso ocorre em aspectos relacionados à vida cotidiana das pessoas, como o abastecimento de água a cidades ou conurbações habitadas por milhões de pessoas, o tratamento de seus resíduos, o transporte urbano ou a segurança cidadã. Um acontecimento que sofreu um crescimento notável em questão de apenas algumas décadas.
As próprias cidades foram fundamentais no desenvolvimento da experiência política italiana na Idade Média, onde se realizava a eleição dos magistrados, a deliberação cidadã, a colegialidade das decisões e um certo controle das elites, aspectos fundamentais no desenvolvimento da teoria política que se aplicou de certa forma após o desenvolvimento dos Estados-nação. Tudo isso representou, de forma complementar, um antecedente evidente da democracia pluralista.
No entanto, as cidades se transformaram radicalmente, tornando-se espaços onde seus habitantes têm muito pouco a dizer, apesar dos processos democratizantes que buscam o autogoverno em situações que continuam sendo muito centralistas. Ademais, em sua dinâmica diária, contam com poucas áreas verdes e os bairros distantes dos centros urbanos obrigam seus moradores a investir várias horas em seus deslocamentos. Trata-se, por outro lado, de cidades controladas por atores informais, quando não criminosos, e onde, em um sentido muito diferente, os animais de estimação quintuplicam, em média, o número de seus habitantes. Tudo isso acarreta as consequentes implicações nas transformações das atitudes das pessoas, bem como nas políticas públicas derivadas. Questões profundamente transformadas pela revolução digital.
O segundo aspecto tem a ver com a complexidade dos temas que integram a agenda pública e cuja socialização generalizada parece exigir uma resposta pertinente de uma cidadania que, no entanto, está cada vez mais fragmentada, atomizada e sem solidariedade. O funcionamento do sistema de pensões em populações com pirâmide demográfica invertida, a política de saúde ou educação, bem como a de cuidados que confronta o público com o privado, questões fiscais, o mundo das relações internacionais, a cultura do hiperconsumo, a legalização de certas drogas são apenas um punhado de assuntos que dominam a agenda e que podem ser encontrados nas habituais disputas políticas. Sobre eles, a teoria aponta que o comportamento do eleitorado deveria ser racional e que, em um delírio de idealismo, concebe que é composto por indivíduos proativos e informados. Mas a realidade está longe de ser assim.
Pode-se argumentar que essa situação foi comum desde meados do século passado até hoje e que o que realmente mudou é que a intermediação e os atalhos cognitivos que envolviam a ação dos partidos políticos ou de outros grupos de interesse, como sindicatos ou organizações empresariais, substituíam essa ausência de conhecimento especializado. Era necessário apenas um certo grau de confiança nessa tarefa de intermediação construída por meio de mecanismos de identidade que garantiam fidelidade. Mas isso hoje desapareceu diante do auge das estratégias de polarização no âmbito da competição política, como aconteceu com as classes sociais no campo epistemológico quando o marxismo sucumbiu à pregação neoliberal que impôs nas Ciências Sociais uma nova gíria em clave do império da transversalidade, do mérito e do indivíduo.
De fato, as formas atuais de comunicação e informação geram um cenário radicalmente diferente do que existia no início do século, quando não existiam as redes sociais usadas hoje, nem o mundo digital havia experimentado o crescimento exponencial alcançado. De fato, apenas 6,7% da população mundial usava a Internet em 2000, contra 67,4% atualmente. Além disso, a pandemia da COVID-19 polarizou os eleitores e minou a confiança nas instituições. Tudo isso significa que os marcos cognitivos mudaram profundamente, de modo que o domínio da desinformação é cada vez mais evidente e, como consequência, as pessoas se encontram inseridas em uma arena dominada pela perplexidade e pela incerteza, o que dificulta compreender a complexidade do que está acontecendo.
Tradução automática revisada por Isabel Lima